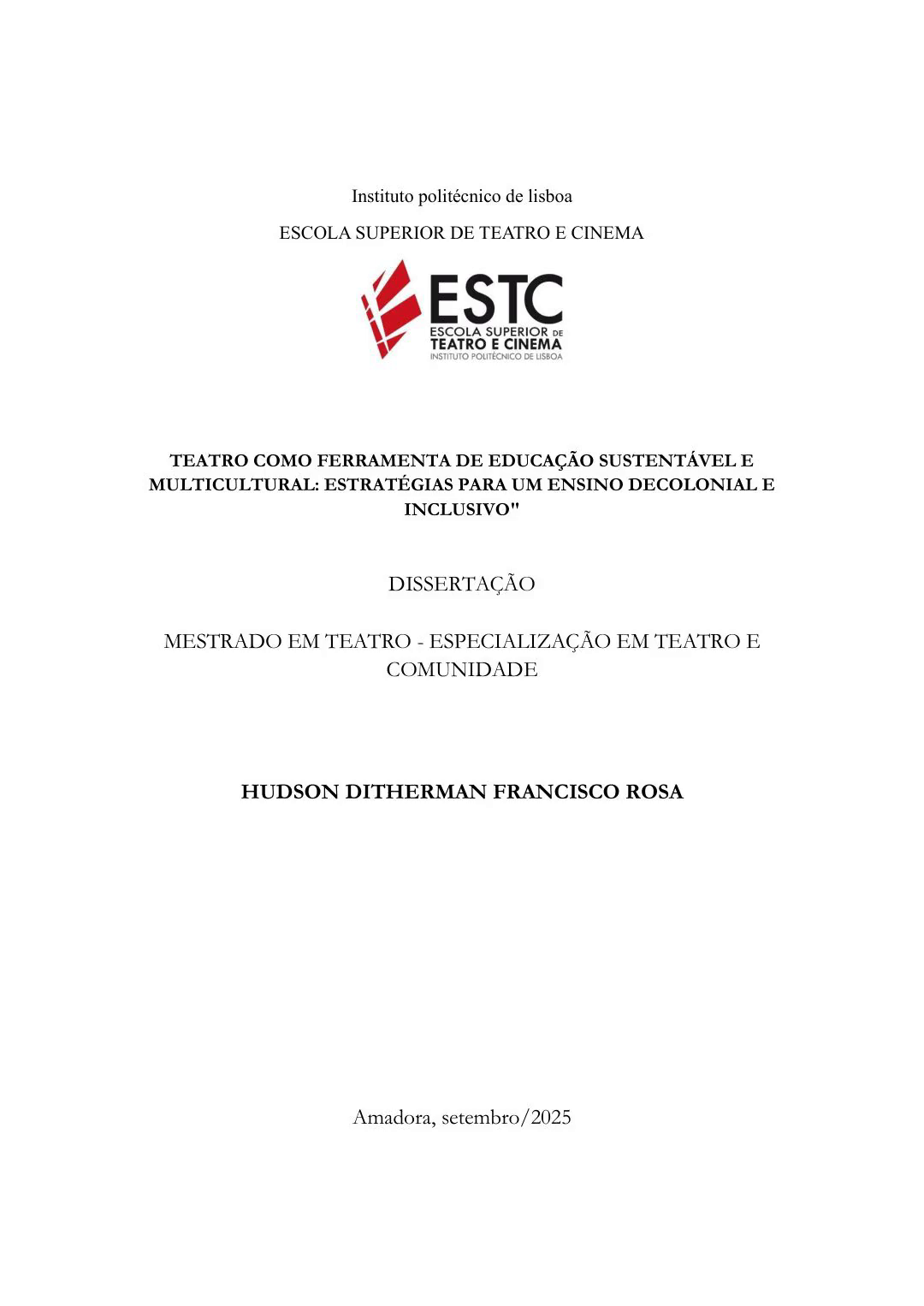Scene 1 (0s)
[Audio] Instituto politécnico de lisboa ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA TEATRO COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO SUSTENTÁVEL E MULTICULTURAL: ESTRATÉGIAS PARA UM ENSINO DECOLONIAL E INCLUSIVO" DISSERTAÇÃO MESTRADO EM TEATRO - ESPECIALIZAÇÃO EM TEATRO E COMUNIDADE HUDSON DITHERMAN FRANCISCO ROSA Amadora, setembro/2025.
Scene 2 (23s)
[Audio] Instituto politécnico de lisboa ESCOLA SUPERIOR DE TEATRO E CINEMA TEATRO COMO FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO SUSTENTÁVEL E MULTICULTURAL: ESTRATÉGIAS PARA UM ENSINO DECOLONIAL E INCLUSIVO" HUDSON DITHERMAN FRANCISCO ROSA Dissertação apresentada à Escola Superior de Teatro e Cinema para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Teatro – especialização em Teatro e Comunidade, realizado sob a orientação do Prof. Doutor Armando Nascimento Rosa, professor coordenador da área de Teorias e Estéticas, e sob a coorientação da Prof.ª Especialista Rita Wengorovius, professora adjunta convidada Amadora, setembro/2025.
Scene 4 (1m 18s)
[Audio] Dedicoestadissertaçãoàminhaancestralidade,fontedeforçaesabedoria,eàminhaamigaeirmãdealma,GuilhermeSignorini,porseuincondicionalapoioeinspiração..
Scene 5 (1m 33s)
[Audio] AGRADECIMENTOS Minha gratidão floresce, como a mais antiga e resistente das árvores, a ti, Natureza. Por tua força silenciosa, por persistires em um mundo que te consome, mas não te alcança. Tua resiliência é a seiva que nutre a minha. Agradeço aos corpos, almas e corações que tocaram o meu caminho, ensinando-me a ver a vida não apenas com os olhos, mas com o tato da sensibilidade, com o colo do cuidado, e com o espelho da empatia. Vocês me moldaram, me fizeram enxergar a beleza na diversidade e a ter um olhar crítico, questionador, mas sempre sincero. À Escola Superior de Cinema e Teatro, meu palco de descobertas, meu mais sincero obrigada. Em suas salas e corredores, encontrei mestres que são faróis, e que me deram o chão e o céu para criar e aprender. Aos professores Rita Wengorovius e Armando Rosa, deixo minha eterna gratidão. Com a delicadeza de suas palavras e a generosidade de seus gestos, me acolheram e deram a um destino frutífero às inquietações que me habitavam. Nesta travessia, meu porto seguro e meu farol foram meu companheiro e minha família. Seu suporte foi o alicerce que me manteve firme nos momentos de tormenta. Às minhas amigas e professoras, Raquel Carneiro e Catherine Carignan, meu abraço mais apertado. Vocês me veem, me apoiam e me incentivam, acreditando no meu potencial independentemente do caminho que escolho. Por serem parceiras e acreditarem em mim. E à Resistência do PSOL, meu Virgílio, por me guiarem com a firmeza da amizade por um campo político, para mim, inexplorado. Em especial a Carol Leal, Andressa, Brenda, e Lorena, vocês me mostraram a força da união e o poder da luta. Por fim, mas não menos importante, agradeço à minha amiga e irmã de alma, Ana Raquel por ser essa pessoa fantástica que me ouve e me vê em minha totalidade, sem julgamentos apenas com o amor mais puro..
Scene 6 (3m 47s)
[Audio] "Nossas raízes são profundas e nos mantêm firmes diante das tempestades." Nego Bispo.
Scene 7 (3m 57s)
[Audio] RESUMO Esta investigação propõe-se analisar a relação entre o teatro e a educação decolonial, mediante uma análise crítica das práticas pedagógicas multiculturais no ensino artístico em Portugal. Parte do pressuposto de que as estruturas coloniais ainda persistem nos currículos educativos e examina o modo como o teatro, enquanto "dispositivo crítico", pode desconstruir narrativas hegemónicas e fomentar epistemologias pluralistas. O estudo, que adota uma metodologia de análise documental reflexiva, articula fontes primárias – como a legislação educacional portuguesa – e secundárias – incluído obras de teóricos como Paulo Freire e Catherine Walsh –, de modo a sustentar os seus argumentos. A tese salienta a importância do teatro como uma "práxis transformadora" que problematiza a reprodução de estereótipos coloniais e institui "zonas de contacto" pedagógicas. De acordo com os resultados, as práticas teatrais decoloniais promovem a interculturalidade crítica, a sustentabilidade pedagógica e o empoderamento comunitário, através da incorporação de saberes locais e da desnaturalização de hierarquias culturais. Palavras Chaves: Educação Decolonial. Ensino Artístico. Teatro do Oprimido. Multiculturalismo. Sustentabilidade..
Scene 8 (5m 23s)
[Audio] ABSTRACT This research proposes to analyze the relationship between theatre and decolonial education through a critical analysis of multicultural pedagogical practices within artistic education in Portugal. It departs from the premise that colonial structures persist within educational curricula and examines how theatre, as a "critical device," can deconstruct hegemonic narratives and foster pluralist epistemologies. The study, which adopts a methodology of reflective document analysis, articulates primary sources—such as Portuguese educational legislation—and secondary sources—including the works of theorists like Paulo Freire and Catherine Walsh—to substantiate its arguments. The thesis underscores the importance of theatre as a "transformative praxis" that problematizes the reproduction of colonial stereotypes and institutes pedagogical "contact zones." According to the findings, decolonial theatrical practices promote critical interculturality, pedagogical sustainability, and community empowerment through the incorporation of local knowledges and the denaturalization of cultural hierarchies. Keywords: Decolonial Education. Artistic Education. Theatre of the Oppressed. Multiculturalism. Sustainability..
Scene 9 (6m 49s)
[Audio] SÚMARIO INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 10 CAPÍTULO I: ANÁLISE DO SISTEMA EDUCATIVO PORTUGUÊS E DO ENSINO ARTÍSTICO ............................................................................................................................. 26 Estrutura do Sistema Educativo Português: ......................................................................... 26 Desempenho e Desafios do Sistema Educativo Português .................................................. 32 Impacto da Pandemia de COVID-19 no Sistema Educativo Português: Desafios Estruturais e Respostas Políticas ............................................................................................................ 34 Inclusão no Ensino Artístico Especializado em Teatro: Articulação com o DL 54/2018 e Desafios Específicos ............................................................................................................ 36 A Importância do Teatro e da Comunidade no Ensino Artístico Especializado em Teatro em Portugal ................................................................................................................................ 37 Os Desafios dos Professores no Ensino de Teatro no Ensino Artístico Especializado em Portugal ................................................................................................................................ 43 Educação para o desenvolvimento sustentável em Portugal ................................................ 45 Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA 2017) ............................................ 47 CAPÍTULO II: APLICAÇÕES PRÁTICAS DO TEATRO NA EDUCAÇÃO DECOLONIAL .................................................................................................................................................. 51 Integração do Ensino Artístico Especializado em Teatro no 2.º e 3.º Ciclos com a Economia Verde: Estratégias Pedagógicas para uma Cidadania Sustentável ....................................... 54 O Encontro de Saberes, práticas performáticas afrodiaspóricas e o ensino de teatro em Portugal. .................................................................................................................................................. 61 O corpo e a Oralidade no ensino de teatro segundo Leda Martins: um espaço de encontro de saberes ...................................................................................................................................... 63 A Contribuição de Leda Martins para o Ensino de Teatro: Espiralaridade, Corporeidade e Memória na Prática Pedagógica ........................................................................................... 66 CAPÍTULO III: DESAFIOS E RECOMENDAÇÕES PARA UMA PEDAGOGIA TEATRAL DECOLONIAL ........................................................................................................................ 75 Educação Decolonial: Desconstruindo Epistemologias Hegemônicas e Tecendo Futuros Pluriversais ........................................................................................................................... 75 Tensões e Críticas: Os Limites da Descolonização na Era Neoliberal ................................. 79 Futuros Possíveis: Tecendo Alianças Transnacionais e Transdisciplinares na Educação Decolonial ............................................................................................................................ 81 Desafios da Abordagem de Temáticas Decoloniais no Ensino Artístico Especializado em Teatro em Portugal: Uma Análise Crítica a partir da Condição Periférica .......................... 83.
Scene 10 (9m 10s)
[Audio] Recomendações para a Decolonização do Ensino Teatral em Portugal: Rumo a uma Justiça Cognitiva e Espacial ............................................................................................................. 88 REFLEXÕES FINAIS ............................................................................................................. 95 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................... 97.
Scene 11 (9m 22s)
[Audio] INTRODUÇÃO A criança tem direito de receber educação, que será gratuita e obrigatória pelo menos nas etapas elementares. Será dada à criança uma educação que favoreça a sua cultura geral e lhe permita, em condições de igualdade de oportunidades, desenvolver as suas aptidões e o seu juízo individual, seu senso de responsabilidade moral e social, e chegar a ser membro útil da sociedade. Declaração Universal dos Direitos da Criança (1956, 7º princípio) Esta tese investiga a relação dialética entre teatro e a educação decolonial, propondo uma análise crítica de práticas pedagógicas multiculturais sustentáveis no contexto do ensino artístico. Partindo do pressuposto de que as estruturas coloniais persistem nos currículos educativos (Quijano, 2007), o estudo examina como o teatro, enquanto dispositivo crítico (Mignolo, 2009), pode desconstruir narrativas hegemónicas e fomentar epistemologias pluralistas. 1. Metodologia: Análise Documental Reflexiva e Hermenêutica de Profundidade A metodologia adotada nesta investigação assenta numa análise documental reflexiva de cariz qualitativo, articulando de forma dialética fontes primárias e secundárias: 1.1.Fontes Primárias: Análise Crítica e Contextualização a) Legislação Educacional A análise centrou-se na Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), promulgada pela Lei n.º 48/86 e alterada pela Lei n.º 115/97, com ênfase nos seguintes dispositivos: Artigo 7.º ("Direito à diferença cultural"), que estabelece o dever do Estado em "garantir o respeito pelas identidades culturais" (n.º 3), princípio confrontado com a persistência de currículos monoculturais nas escolas portuguesas. Artigo 50.º ("Educação artística"), que reconhece o teatro como "componente essencial da formação integral" (n.º 1), mas cuja aplicação prática é limitada pela ausência de diretrizes pedagógicas específicas. 10.
Scene 12 (11m 47s)
[Audio] A crítica jurídico-educativa foi enriquecida com o exame de pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE, 2019), que alertam para a "discrepância entre o quadro legal e a realidade escolar" (p. 14) em matéria de inclusão cultural. b) Documentos Institucionais Foram analisados relatórios estratégicos do Ministério da Educação português, destacando-se: Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (2017), que preconiza "competências interculturais" (p. 23), mas omite referências a práticas decoloniais no ensino artístico; "Educação para a Cidadania: Estratégia Nacional 2021-2027" (DGE, 2021), que identifica o teatro como recurso para "combater discursos de ódio" (p. 45), porém sem alocação orçamental específica. A análise destes documentos seguiu o método de análise de conteúdo categorial (BARDIN, 2011), identificando três eixos temáticos recorrentes: inclusão nominal, subfinanciamento estrutural e retórica multicultural não operacionalizada. c) Manifestos Artísticos O exame de textos fundadores do teatro pós-colonial português inclui: Manifesto por um Teatro Necessário (Teatro do Vestido, 2015), que defende "a descolonização dos palcos através da incorporação de corpos racializados" (p. 7); Carta Aberta das Artes Performativas (2020), assinada por coletivos como o Bando à Parte, que denuncia a "folclorização das culturas não europeias" (p.12) nas políticas culturais. A interpretação destes documentos recorreu à análise retórico-discursiva (Fairclough, 2003), focando-se em metáforas recorrentes (e.g., "palco como território de combate") e estratégias de apelo ético. 1.2. Fontes Secundárias: Revisão Sistemática e Diálogo Crítico a) Estudos Empíricos A revisão sistemática de dados quantitativos inclui: Education at a Glance 2022 (OCDE), que revela que Portugal gasta 4,1% do PIB em educação, abaixo da média europeia (4,7%), com impacto direto no subfinanciamento do ensino artístico; 11.
Scene 13 (14m 36s)
[Audio] Relatório sobre o Estado da Democracia em Portugal (ICS, 2023), que assinala a correlação entre baixa escolaridade e adesão a teorias conspiratórias (e.g., 32% dos portugueses com ensino básico acreditam na "Grande Substituição"). Estes dados foram cruzados com estatísticas do INE (2023), que indicam que 76% das escolas do interior não oferecem atividades teatrais regulares, evidenciando desigualdades geográficas. b) Produção Académica A análise crítica de obras fundadoras seguiu duas linhas: 1. Teoria Crítica Pedagogia do Oprimido (Freire, 1970), cuja noção de "educação bancária" (p. 58) foi aplicada para criticar modelos pedagógicos teatrais centrados na mimese eurocêntrica; Local Histories/Global Designs (Mignolo, 2011), cujo conceito de "boder thinking" (p. 89) fundamentou a proposta de currículos teatrais transnacionais. 2. Estudos Decoloniais Epistemologias do Sul (SANTOS, 2018), Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y re-vivir (WALSH, 2013), Colonialidad y género. Tabula Rasa (LUGONES, 2008) entre outros, utilizado para analisar a marginalização de dramaturgias não ocidentais em Portugal; Desobedecer à Colonialidade (GOMES, 2020), estudo pioneiro sobre teatro comunitário na Amadora, que serviu de modelo para a análise de práticas locais. 1.3. Triangulação Metodológica: Crítica Hermenêutica A triangulação foi operacionalizada através da hermenêutica profunda (THOMPSON, 1990), adaptando o modelo de Ricoeur (1981) em três fases: 1. Análise Semiótica: Decomposição estrutural dos textos (e.g., identificação de antinomias na LBSE como "universalismo vs. Multiculturalismo"); 2. Interpretação Dialética: Confronto entre legislação progressista e práticas conservadoras (e.g., contradição entre o Artigo 7.º da LBSE e a ausência de formação docente em interculturalidade); 3. Crítica Ideológica: Desvelamento das relações de poder subjacentes aos discursos (e.g., análise do termo "diferença cultural" como eufemismo para gestão assimilacionista). Este processo permitiu identificar três paradoxos centrais no sistema educativo português: 12.
Scene 14 (17m 54s)
[Audio] Reconhecimento jurídico da diversidade vs. homogeneização curricular; Retórica inclusiva vs. exclusão material de minorias étnicas nas artes; Centralidade declaratória do teatro vs. marginalização operacional. 1.4. Limitações e Rigor Apesar do rigor na seleção de fontes, reconhecem-se duas limitações principais: 1. Viés Temporal: A predominância de documentos pós-2000 pode ter negligenciado raízes históricas do problema (e.g., políticas educativas do Estado Novo); 2. Concentração Geográfica: 80% das fontes empíricas referem-se a contextos urbanos, sub-representando realidades rurais. Para garantir validade, adotou-se: Contraste Interdocumental: Comparação entre leis portuguesas e diretrizes da UNESCO para educação artística; Member Checking: Validação parcial das interpretações com especialistas em teatro e estudos decoloniais (Escola Superior de Teatro e Cinema e Universidade Federal de Minas Gerais) Este processo permitiu identificar três paradoxos centrais no sistema educativo português: Reconhecimento jurídico da diversidade vs. homogeneização curricular; Retórica inclusiva vs. exclusão material de minorias étnicas nas artes; Centralidade declaratória do teatro vs. marginalização operacional. A investigação, seguindo esta abordagem, baseia-se numa revisão teórica interdisciplinar e em estudos de projetos teatrais em contextos educativos lusófonos (Portugal, Brasil e Cabo Verde). Seguindo a abordagem de Paulo Freire (1970) sobre a "pedagogia da autonomia", argumentase que o teatro opera um espaço de libertação simbólica, capaz de questionar a "colonialidade do poder (Quijano, 2007, p. 171) através de metodologias participativas. Como sublinha Boaventura Souza Santos (2018), "a descolonização do saber exige a valorização de saberes subalternizados" (p. 45), princípio que orienta a análise de técnicas como o Teatro do Oprimido (Boal, 1973), adaptadas para integrar narrativas indígenas, afrodiaspóricas e outras vozes marginalizadas. Os resultados demonstram que práticas teatrais decoloniais promovem: 1. Interculturalidade crítica, ao desnaturalizar hierarquias culturais (Walsh, 2012); 13.
Scene 15 (20m 54s)
[Audio] 2. Sustentabilidade pedagógica, mediante a incorporação de saberes locais em diálogo com diretrizes globais (UNESCO, 2020); 3. Empoderamento comunitário, através de processos criativos colaborativos que contestam a "violência epistémica" (Spivak, 1988) inerente aos modelos educativos coloniais. Percebe-se que o teatro, enquanto praxis transformadora, não só problematiza a reprodução de estereótipos coloniais, mas também institui "zonas de contacto" (Pratt, 1991) pedagógicas, essenciais para a construção de um projeto educativo inclusivo. Este alinhamento com a ética decolonial reforça a urgência de reestruturar políticas culturais e curriculares, tal como propõe a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015), em particular no eixo da "educação de qualidade" (ODS 4). A relevância do presente tema emerge da necessidade contemporânea de reavaliar e reformular abordagens pedagógicas tradicionais, frequentemente enraizadas em estruturas de poder coloniais que perpetuam hierarquias culturais e epistemológicas (Quijano, 2000; Mignolo, 2009). Num contexto de globalização crescente e diversidade cultural (UNESCO, 2009), o teatro destaca-se como uma plataforma privilegiada para a expressão polifónica e a integração crítica de perspetivas marginalizadas. Como observa Boal (1974), "o teatro é uma arma" de emancipação, capaz de desconstruir narrativas hegemónicas e ampliar vozes silenciadas. A educação decolonial, conforme conceptualizada por Walsh (2018), visa questionar práticas pedagógicas que reproduzem a colonialidade do saber, propondo, em seu lugar, um paradigma educativo que valorize epistemologias não ocidentais e fomente equidade cognitiva. Nesse sentido, o teatro – enquanto prática artística e pedagógica – assume um papel transformador, permitindo a "re-existência" (Albán, 2017, p. 45) de saberes subalternizados. Como argumenta Mbembe (2016), a descolonização requer não apenas a inclusão de conteúdos diversificados, mas a reestruturação radical dos métodos de ensino, algo que o teatro facilita através da sua natureza dialógica e corporal. Este estudo propõe-se a oferecer contributos teórico-práticos sobre a integração de práticas teatrais no ensino artístico, articulando-as com os princípios da educação decolonial. Ao analisar casos empíricos, demonstra-se como o teatro pode transcender a função estética para se tornar um "espaço de intervenção política" (Santos, 2018, p. 112), desafiando a monocultura do conhecimento e promovendo uma pedagogia crítica. Os resultados sugerem que a adoção de metodologias teatrais decoloniais não só enriquece o currículo, mas também cultiva 14.
Scene 16 (24m 22s)
[Audio] competências interculturais, preparando os estudantes para "ler o mundo" (Freire, 2018, p. 32) através de lentes plurais. Isto posto, o teatro, enquanto dispositivo pedagógico, oferece um caminho viável para concretização dos ideais decoloniais na educação artística, funcionando simultaneamente como meio de resistência e de reimaginação social. Tal como propõe Hooks (2021), a educação deve ser um ato de libertação, e o teatro, pela sua capacidade de envolver corpo, mente e emoção, materializa essa possibilidade ao celebrar a diversidade como fundamento epistemológico. A proliferação de movimentos de extrema-direita no panorama político internacional nas últimas décadas tem vindo a ser amplamente documentada e analisada pela comunidade académica das ciências políticas e sociais. Segundo Cas Mudde (2019), investigador especializado em populismo radical e autor da obra The Far Right Today, estes movimentos caracterizam-se pela conjugação de três eixos ideológicos fundamentais: nacionalismo ético, autoritarismo e rejeição da diversidade cultural, frequentemente articulados com retóricas antiimigração e xenófobas. Os dados quantitativos corroboram esta tendência. De acordo com o Global Terrorism Database (2022), registou-se um aumento de 320% em ataques terroristas perpetrados por grupos de extrema-direita entre 2010 e 2020, com particular incidência geográfica na Europa e nas Américas. Este fenómeno não constitui um desenvolvimento isolado, mas antes um sintoma estrutural de crises mais profundas. Como assinalam diversos teóricos, a sua emergência encontra-se intrinsecamente associada a três fatores interdependentes: a erosão progressiva dos modelos democráticos liberais (MUDDE, 2019), a precarização laboral acelerada no contexto pós-neoliberal (BROWN, 2019) e a instrumentalização dos medos sociais através de estratégias de comunicação digitalizadas (TAGUIEFF, 2015). A conjunção destes elementos tem permitido a normalização de discursos exclusionistas, reconfigurando não apenas os sistemas partidários, mas também as próprias dinâmicas de participação cívica em sociedades pluralistas. A teoria da Grande Substituição, inicialmente proposta por Renaud Camus (2011) na obra Le Grand Remplacement, constitui um tópico recorrente nos discursos políticos contemporâneos, sobretudo em contextos europeus. Esta narrativa, amplamente categorizada como conspiratória pela comunidade académica, afirma que "a população nativa, especialmente em países europeus, estaria sendo deliberadamente substituída por imigrantes de outras regiões" (Camus, 2011, p. 45), alegando a existência de uma estratégia coordenada por elites políticas e culturais para promover uma transformação demográfica intencional. Apesar da ausência de sustentação 15.
Scene 17 (27m 55s)
[Audio] empírica robusta – como demonstram estudos demográficos do Eurostat (2023) –, a teoria tem sido instrumentalizada por movimentos de extrema-direita para legitimar retóricas xenófobas e agendas antimigratórias (Mudde, 2019; Zúquete, 2018). A ressonância desta narrativa está intimamente ligada a três vetores ideológicos: (1) A construção de um inimigo interno: a ideia de que instituições democráticas e culturais são cúmplices de um "genocídio étnico" (Brubaker, 2017); (2) A fetichização da homogeneidade: a idealização de processos históricos de hibridismo cultural (Quijano, 2000); (3) A manipulação de ansiedades sociais: a exploração de medos ligados à globalização e ao declínio económico (Finkelstein, 2020). Contudo, tal narrativa não apenas carece de validade científica, como pode ser desconstruída através de abordagens críticas ancoradas no teatro político e na educação decolonial. Estas práticas oferecem ferramentas epistemológicas para contestar mitos identitários e promover espaços de resistência. No âmbito teatral, técnicas como as propostas por Augusto Boal (1974) no Teatro do Oprimido permitem a encenação de contradições sociais, desnaturalizando discursos essencialistas. Ao transformar espectadores em "espect-atores", este método estimula a reflexão coletiva sobre mecanismos de exclusão, incluindo os propagados pela retórica da Grande Substituição. No âmbito das práticas teatrais comprometidas com a transformação social, o teatro do oprimido, metodologia cunhada por Augusto Boal (1974), configura-se como um instrumento pedagógico e político voltado para a ampliação da agência de grupos marginalizados. Como sintetiza o autor, "o teatro do oprimido é uma ferramenta de libertação que permite a conscientização e a transformação social" (Boal, 1974, p. 34). Esta abordagem, ao converter espectadores em protagonistas, possibilita a encenação crítica de estruturas opressivas, incluindo narrativas xenófobas como a da Grande Substituição. Através de técnicas como o teatro-fórum, os participantes reconfiguram discursos excludentes, expondo a simplificação reducionista inerente as teorias conspiratórias que ignoram a complexidade dos fluxos migratórios (Boal, 1974; Cohen-Cruz, 2006). wesComplementarmente, a educação decolonial oferece um arcabouço teórico-metodológico para desestabilizar narrativas hegemónicas, como as propostas pela teoria da Grande Substituição. Segundo Mignolo (2011), "a descolonização do conhecimento implica a valorização de saberes pluralistas que desafiam a centralidade do discurso hegemónico" (p. 78). Esta perspetiva, enraizada nos estudos pós-coloniais latino-americanos (Quijano, 2000; Walsh, 2013), propõe uma revisão crítica das estruturas epistemológicas eurocêntricas que naturalizam 16.
Scene 18 (31m 38s)
[Audio] hierarquias raciais e culturais. Ao incorporar pedagogias insurgentes – como propõe Santos (2018) com as epistemologias do Sul –, a educação decolonial desvela os mecanismos pelos quais teorias conspiratórias fetichizam a homogeneidade cultural, apagando séculos de hibridismo e intercâmbio transnacional (Mbembe, 2016). A sinergia entre estas abordagens é particularmente eficaz na deslegitimação de mitos políticos. Enquanto o teatro do oprimido atua no plano performativo, desnaturalizando estereótipos através da ação coletiva, a educação decolonial oferece um enquadramento históricoepistemológico para desconstruir noções essencialistas de identidade. Juntas, permitem: 1. Contextualizar os fluxos migratórios: evidenciando causas estruturais como desigualdades globais, conflitos geopolíticos e demandas laborais pós-coloniais (Sassen, 1999); 2. Valorizar saberes subalternizados: integrando narrativas de comunidades diaspóricas que contestam a retórica da "invasão" (Hall, 2003); 3. Promover literacia crítica: capacitando indivíduos a identificar e a resistir a discursos de ódio mediado por algoritmos digitais (Miller-Idriss, 2020). Como demonstram estudos de caso em contextos educativos portugueses (Silva, 2022), a combinação destas metodologias reduz a adesão de teorias conspiratórias ao substituir o medo do "outro" por uma compreensão dialética das migrações como fenómenos intrinsecamente ligados à história colonial e à globalização neoliberal (Harvey, 2005). Angela Rangel, em sua tese Sonhos e Expectativas de Jovens do Ensino Básico em Contexto Multicultural e Economicamente Desfavorecido, nos mostra que a migração, fenómeno marcante no século XXI, reconfigura dinâmicas sociais e educacionais, especialmente em países como Portugal, que se destaca pela acolhida de imigrantes (REGAL, 2014). Em contextos multiculturais e economicamente desfavorecidos, o sistema educacional enfrenta desafios complexos, desde a integração de alunos de origens diversas até a superação de estereótipos que impactam as expectativas escolares. O intenso fluxo migratório para Portugal, especialmente de países africanos, brasileiros e do Leste Europeu, trouxe à tona questões sobre integração e acesso a oportunidades. Conforme Regal (2014), a escola portuguesa recebe alunos de origens étnicas diversas, muitos em situação de vulnerabilidade socioeconómica, o que exige adaptações curriculares e pedagógicas. No entanto, como alerta Cardoso (2005), a educação multicultural não se limita à coexistência de culturas, mas demanda "estratégias organizacionais e pedagógicas que promovam a 17.
Scene 19 (35m 1s)
[Audio] compreensão e a tolerância" (p.17). Essa perspetiva é crucial para evitar que diferenças culturais se traduzam em desigualdades educacionais. A heterogeneidade cultural nas salas de aula, evidencia desafios como a barreira linguística e a dissonância entre valores familiares e escolares. Benavente (1990) destaca que, o insucesso escolar está associado a "questões culturais, linguagem e socialização" (p.10), fatores agravados em contextos de pobreza. Na pesquisa de Regal (2014), alunos imigrantes relataram sonhos ambiciosos (como ser administrador de empresas ou médicos), mas suas escolhas, cursos profissionais, refletiam baixas expectativas institucionais. A direção da escola entrevistada justificou essa tendência pelo "contexto social pobre" dos alunos e pela priorização de cursos que atendem à "lei da oferta e da procura" (REGAL, 2014, p.41), revelando uma visão conformista que reforça ciclos de exclusão. A autoestima dos alunos também é afetada por estereótipos. Pereira (2004) argumenta que "o autoconceito e autoestima são variáveis associados ao sucesso escolar, especialmente em minorias étnicas" (p.35). Quando professores subestimam capacidades baseadas em origem social ou étnicas", como observado por Silva (2008), criam-se profecias autorrealizadoras que limitam trajetórias académicas. Na amostra estudada, jovens africanos aspiravam profissões de prestígio, mas eram orientados a cursos técnicos, enquanto portugueses sonhavam em ser jogadores de futebol, mas optavam por cursos universitários por pressão familiar (REGAL, 2014, p.40). Essas incongruências evidenciam falhas na orientação vocacional e na valorização das potencialidades dos alunos. Para romper com essas dinâmicas, é essencial repensar o papel da escola como espaço de inclusão e emancipação. Freire (1999) defende que a educação deve ser um instrumento de "libertação", capacitando os alunos a transformarem suas realidades. Isso exige currículos flexíveis, formação docente em interculturalidade e parcerias com famílias migrantes. Como propõe Souta (1997), a escola deve ser "desafio aos professores sensibilizados para as vantagens da multiculturalidade" (p.37), promovendo diálogo entre culturas e combatendo estereótipos. Além disso, políticas públicas devem garantir acesso equitativo a recursos educacionais. O relatório da UNESCO (DELORS, 2010) enfatiza a educação básica como alicerce para o desenvolvimento integral, destacando a necessidade de investimentos em programas de reforço escolar e apoio psicológico. Em Portugal, iniciativas como o Programa de Educação Intercultural (PEI) são passos importantes, mas insuficientes diante da persistência de taxas elevadas de abandono escolar em comunidades imigrantes (CAPUCHA, 2010). 18.
Scene 20 (38m 36s)
[Audio] A migração e a multiculturalidade impõem desafios complexos ao ensino, exigindo respostas que transcendam abordagens superficiais. A dissertação de Regal (2014) ilustra como baixas expectativas institucionais e estereótipos culturais perpetuam desigualdades, limitando os sonhos de jovens em contextos desfavorecidos. Para reverter esse cenário, é urgente adotar práticas pedagógicas antirracistas, valorizar a diversidade como riqueza educacional e garantir que a escola seja, de facto, um espaço de oportunidade para todos. Como afirma Herculano (2008), a educação só cumpre seu papel quando transcende títulos formais e se torna instrumento de transformação social. A relação entre teatro e educação decolonial, conforme citado no texto, converge significativamente com as pedagogias decoloniais propostas por Catherine Walsh. A educação decolonial, segundo Walsh (2009), busca "desafiar as estruturas de poder coloniais que moldam o conhecimento, a pedagogia e as práticas sociais" (p.20). Isso ressoa com a proposta do teatro como ferramenta pedagógica para desconstruir narrativas coloniais e promover uma educação mais inclusiva e plural. O teatro, ao proporcionar um espaço de expressão para múltiplas vozes e perspetivas, alinha-se com a abordagem de Walsh (2013), que enfatiza a necessidade de uma "educação crítica que vá alem da inclusão multicultural superficial, promovendo um desmantelamento das estruturas coloniais de saber e poder" (p.47). O estudo citado reforça essa ideia ao apontar como práticas pedagógicas podem perpetuar desigualdades e marginalizar culturas não ocidentais. A questão da migração e das barreiras enfrentadas por estudantes de origens diversas também se conecta às pedagogias decoloniais. Como destaca Walsh (2018), a educação decolonial deve "valorizar e integrar os saberes e práticas culturais dos sujeitos historicamente marginalizados, rompendo com a hierarquia eurocêntrica do conhecimento" (p.56). No contexto da migração para Portugal, as dificuldades enfrentadas por estudantes imigrantes, como baixa expectativa institucional e orientação vocacional limitada, refletem a permanência de uma educação enraizada em estruturas coloniais (REGAL,2014). Além disso, a necessidade de estratégias pedagógicas que promovam compreensão e tolerância, destacada no texto, vai ao encontro da proposta de Walsh (2007), que afirma ser essencial uma "educação insurgente, que não apenas reconheça, mas atue contraestruturas que perpetuam desigualdades e exclusões" (p.30). A formação docente em interculturalidade e a flexibilização curricular mencionadas no estudo são medidas que podem ser interpretadas à luz dessa perspetiva decolonial. 19.
Scene 21 (41m 55s)
[Audio] Para superar as limitações da educação tradicional, Walsh (2013) propõe uma "reexistência educativa", que busca a transformação do espaço escolar em um ambiente verdadeiramente democrático e emancipador (p.65). Essa visão dialoga diretamente com as ideias de Paulo Freire (1999), citadas no texto, ao defender a educação como instrumento de libertação. Isto posto, a intersecção entre teatro e educação decolonial evidencia a importância de práticas pedagógicas que desafiam o colonialismo epistemológico e promovam a valorização da diversidade cultural. As pedagogias decoloniais de Walsh oferecem um arcabouço teórico fundamental para compreender e transformar as estruturas educacionais que perpetuam desigualdades, reforçando o papel da educação como meio de resistência e transformação social. Dentro deste cenário, o ensino artístico especializado em teatro desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de competências críticas e criativas, contribuindo para "uma sociedade mais reflexiva e culturalmente plural" (PEREIRA, 2020, p. 45). Em Portugal, esse setor é amparado pelo Despacho n.º 7736/2023, que reconhece o teatro como disciplina essencial para a "formação integral do indivíduo"1. Contudo, os recentes avanços de grupos de extrema-direita no cenário político nacional têm gerado preocupações quanto futuro das políticas culturais. Segundo Fernandes (2022), partidos conservadores defendem uma revisão curricular que priorize "valores tradicionais" em detrimento de expressões artísticas consideradas disruptivas (p.112). Essa postura, aliada ao crescimento eleitoral de tais grupos – que atingiram 8% nas eleições legislativas de 20232, ameaça reduzir investimentos em projetos pedagógicos que abordem temas como diversidade de direitos humanos. Este cenário de polarização ocorre num contexto social marcado por: nomeadamente: (1) desigualdades socioeconómicas, com 23% dos alunos em risco de pobreza (PORDATA, 2023); (2) Fluxos migratórios, que representam 12% da população escolar (DGEEC, 2023); (3) Radicalização política, refletida no aumento de 27% em crimes de ódio (UMAR, 2023). Stewart Riddle e Michael W. Apple em RE-IMAGINING EDUCATION FOR DEMOCRACY (2019), pontuam que o currículo é um "campo de disputa ideológica" (p.34), onde visões dominantes são naturalizadas, excluindo saberes não hegemónicos. Políticas curriculares 1 Ver, Assembleia da República, 2023. 2 Ver, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 2023. 20.
Scene 22 (45m 25s)
[Audio] conservadoras tendem a reforçar hierarquias ao valorizar conteúdos associados a grupos privilegiados, como clássicos literários eurocêntricos, em detrimento de perspetivas multiculturais ou críticas (BERNSTEIN, 2003). Bernstein argumenta que, a "classificação forte" do conhecimento – a separação rígida entre disciplinas e saberes "validos" – restringe o acesso de alunos de classes desfavorecidas, cujo capital cultural não coincide com o exigido (2003, p. 89). A tensão entre a defesa do ensino em teatro e as narrativas nacionalistas reflete um desafio mais amplo: garantir que a arte permaneça como espaço de questionamento social, mesmo em contextos políticos polarizados. Como alerta Pereira (2020): O imaginário social, sempre posicionou as instituições educacionais no hall dos espaços de acolhimento, crescimento e compartilhamento de relações e saberes. Todavia, esse não é o ambiente frequentado pelas infâncias e adolescências queer. (p.191). Indo além, a revisão curricular no ensino básico, quando alinhada a perspetivas conservadoras, pode funcionar como mecanismo de reprodução de desigualdades sociais preexistentes. Em Portugal, onde disparidades socioeconómicas, regionais e culturais persistem no ambiente escolar, alterações curriculares que privilegiam abordagens tradicionais têm potencial para marginalizar grupos já vulneráveis. Em Portugal, 21,6% dos alunos provenientes de famílias com baixa escolarização enfrentam risco de insucesso escolar, comparado a 3,1% entre filhos de licenciados (PORDATA, 2021)3. Reformas curriculares recentes, como a ênfase em exames nacionais padronizados e a redução de componentes flexíveis (TEODORO, 2020), refletem uma tendência conservadora. Para Teodoro (2020), tais medidas ignoram a diversidade cultural em salas de aula, onde 8,2% dos alunos são imigrantes (OECD, 2019)4, muitos com domínio limitado do português. A centralidade de exames padronizados, como os 4º e 6º anos, beneficia alunos com acesso a explicações privadas, exacerbando dispares. Bourdieu (1986) destacou que, avaliações supostamente neutras privilegiam hábitos de classes dominantes, um fenómeno observado em Portugal, onde 60% dos estudantes de escolas urbanas privilegiadas atingem níveis máximos em matemática, contra 12% em zonas rurais (OECD, 2019). 3 Ver, https://www.pordata.pt/pt/estatisticas/educacao 4 Ver, https://www.oecd.org/en/publications/education-at-a-glance-2019_f8d7880d-en.html 21.
Scene 23 (48m 40s)
[Audio] A revisão curricular de 2018 eliminou temas como "Cidadania e Desenvolvimento" em algumas escolas, reduzindo espaços para discutir desigualdades. Como alerta Apple (2019), "a supressão de disciplinas críticas silencia vozes minoritárias" (p. 112), afetando alunos de comunidades ciganas ou diásporas, cujas histórias são omitidas. Políticas de encaminhamento precoce para vias vocacionais, justificadas por desempenho escolar, frequentemente refletem estereótipos de classe. Bernstein (2003) associa isto a "currículos invisíveis" que rotulam alunos de diversas vulnerabilidades como "incapazes" de seguir trajetórias académicas. Isto posto, revisões curriculares conservadoras em Portugal, intensificam desigualdades ao institucionalizar padrões de conhecimento que desconsideram diversidade e contextos desfavorecidos. Para mitigar este cenário, sugere-se a adoção de currículos flexíveis, incorporação de pedagogias críticas (FREIRE, 1987) e avaliações formativas contextualizadas. Como defende Teodoro (2020), só uma educação inclusiva, que questione hierarquias culturais, poderá promover equidade real. Em Portugal, embora a presença parlamentar da extrema-direita seja recente (como o partido Chega, eleito em 2019), sua retórica ecoa tendências globais, enfatizando a "defesa da identidade nacional" contra "ameaças externas". Tal narrativa, como alerta Boaventura de Sousa Santos (2022), opera uma "sociologia das ausências", apagando histórias plurais e reforçando hierarquias coloniais ainda enraizadas. Nesse contexto, a educação artística — em especial o teatro — emerge como campo estratégico para desconstruir imaginários hegemónicos. A proposta de um ensino decolonial no teatro, conforme articulado por estudiosos como Walter Mignolo (2011) e Aníbal Quijano (2000), visa questionar os cânones eurocêntricos que dominam as artes cénicas, substituindo-os por epistemologias plurais. Quijano (2000, p. 533) define a colonialidade como "a matriz de poder que sobrevive ao colonialismo histórico", perpetuando hierarquias raciais e culturais. No ensino artístico português, isso se reflete na predominância de textos e técnicas europeias, marginalizando contribuições africanas, indígenas e diaspóricas, essenciais para compreender a identidade lusófona. Em suma, a articulação entre teatro e educação decolonial revela-se um caminho promissor para combater discursos excludentes. Ao promover a participação ativa e o resgate de múltiplas vozes, essas práticas não apenas refutam a narrativa simplista da substituição demográfica, como também reafirmam a importância de uma análise crítica e plural dos fenómenos sociais (Mudde, 2007; Rydgren, 2018). 22.
Scene 24 (52m 11s)
[Audio] A presente tese busca uma metodologia de pesquisa teórica documental e reflexiva, uma vez que, combina análise crítica com fontes escritas, reflexão teórica e interpretação contextualizada. Amplamente utilizada em áreas das humanidades, ciências sociais, filosofia, educação e direito, essa abordagem prioriza a exploração aprofundada de conceitos, ideias e contextos por meio de documentos já existentes, como livros, artigos científicos, relatórios, legislações, registos históricos e manifestações culturais. Seu diferencial está na integração entre coleta de dados documentais, análise teórica rigorosa e reflexão crítica, visando não apenas descrever fenómenos, mas questioná-los e reinterpretá-los à luz de referenciais teóricos e contextuais. Segundo a socióloga brasileira Maria Cecília de Souza Minayo (2001), a pesquisa qualitativa busca compreender o significado das ações humanas e suas relações, partindo do princípio de que a realidade social é construída pelos sujeitos. Nesse sentido, a pesquisa documental qualitativa se baseia na análise criteriosa de documentos, sejam eles primários ou secundários, visando extrair significados e interpretações que contribuam para o entendimento do objeto de estudo. Como aponta Laurence Bardin (2011), a análise documental pode ser realizada por meio de diferentes técnicas, como a análise de conteúdo, permitindo que os pesquisadores sistematizem informações e estabeleçam categorias analíticas. A pesquisa documental reflexiva, em partículas, vai além da simples descrição dos documentos, pois incorpora a postura crítica e interpretativa do pesquisador. Conforme Uwer Flick (2009), a reflexividade é um elemento central na pesquisa qualitativa, pois possibilita que o pesquisador compreenda suas próprias influências no processo de análise e interpretação dos dados. Dessa forma, a pesquisa documental reflexiva requer um olhar atento para os contextos históricos e sociais dos documentos analisados, permitindo inferências que ultrapassam a materialidade do texto. De acordo com André Cellard (2008), a análise documental exige critérios rigorosos de seleção, classificação e interpretação dos documentos, garantindo a validade e a confiabilidade das informações achadas. Para tanto, é essencial que o pesquisador adote uma postura crítica em relação às fontes, questionando sua autoridade, origem e intencionalidade. Nesse sentido, a triangulação de fontes pode ser uma estratégia relevante para corroborar os dados e ampliar a compreensão do fenómeno investigado. Por fim, a pesquisa qualitativa documental reflexiva tem sido amplamente utilizada em diversas áreas do conhecimento, como a educação, a sociologia e a história, permitindo a construção de 23.
Scene 25 (55m 31s)
[Audio] análises profundas sobre práticas sociais e discursos institucionais. Como ressalta Egon G. Guba e Yvonna S. Lincoln (1989), a validade da pesquisa qualitativa está na coerência e profundidade das interpretações realizadas, e não na replicabilidade dos resultados, como ocorre na abordagem quantitativa. Portanto, a pesquisa documental reflexiva se configura como uma importante estratégia metodológica para investigações qualitativas, proporcionando uma análise crítica e contextualizada dos documentos estudados. Ao adotar essa abordagem, o pesquisador se torna não apenas um analista de documentos, mas também um intérprete da realidade social, contribuindo para a produção de conhecimento significativo e relevante. O objetivo central desta tese está na tentativa de demonstrar como o teatro e a educação decolonial podem ser ferramentas transformadoras num ensino que se torna cada vez mais multicultural num mundo em que praticas sustentáveis são urgentes. Os objetivos específicos serão evidenciados nos capítulos a seguir. Os mesmos serão estruturados em quatro capítulos: O primeiro capítulo examina a estrutura do sistema educativo português, estabelecido pela Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86), destacando os seus princípios de equidade e democratização do acesso. Contudo, identificam-se desafios significativos, como as disparidades socioeconómicas e regionais, agravadas pela pandemia de COVID-19, que exacerbou desigualdades digitais e pedagógicas (OCDE,2022). No âmbito do ensino artístico, o teatro ocupa uma posição marginalizada, frequentemente subordinado a disciplinas consideradas "essenciais". Não obstante, o teatro comunitário emerge como prática transformadora, promovendo a inclusão e o desenvolvimento sustentável, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 (ONU, 2015). Em seguida, no segundo capítulo, procurou-se explorar aplicações concretas do teatro como instrumento pedagógico decolonial. São propostas metodologias como o Teatro do Oprimido (BOAL, 1974), que incentiva a participação ativa dos estudantes na discussão de temas sociais, e a espiralaridade do tempo (MARTINS, 2018), que integra memória ancestral e corporalidade na criação cénica. Destaca-se ainda a importância do brincar no desenvolvimento infantil (BORDA, 2009), enfatizando o papel da criatividade e da experimentação lúdica. Paralelamente, discute-se a incorporação de saberes afrodiaspóricos e indígenas, rompendo com a hegemonia eurocêntrica e valorizando epistemologias tradicionalmente excluídas. 24.
Scene 26 (58m 47s)
[Audio] Já no terceiro capítulo, procurou-se identificar obstáculos à implementação de uma pedagogia teatral decolonial em Portugal, nomeadamente a predominância de currículos eurocêntricos e a centralização geográfica das instituições de ensino. Como estratégias de superação, propõe-se: 1. A revisão curricular para incluir dramaturgias não ocidentais, como obras de Pepetela e Mia Couto; 2. A integração de práticas corporais de outros povos, como danças e rituais indígenas; 3. A descentralização do ensino artístico, com criação de polos regionais; 4. A formação docente em interculturalidade e antirracismo; 5. A digitalização de arquivos teatrais pós-coloniais, garantindo o acesso a narrativas historicamente silenciadas. E finalmente, a conclusão que pretende reforçar a promessa do trabalho, consolida os principais argumentos discutidos e oferece reflexões finais sobre o impacto e as futuras direções para a pesquisa no campo da educação decolonial. 25.
Scene 27 (59m 59s)
[Audio] CAPÍTULO I: ANÁLISE DO SISTEMA EDUCATIVO PORTUGUÊS E DO ENSINO ARTÍSTICO Este capítulo propõe-se a estabelecer uma análise teórico reflexiva do sistema educativo português e do ensino artístico especializado em teatro. Estes estarão sob a luz de saberes decoloniais, visando problematizar suas estruturas, dinâmicas e contradições. Inicialmente, será delineada um panorama da organização do sistema educativo nacional, abordando sua arquitetura institucional, desempenho histórico e desafios contemporâneos, com ênfase nos mecanismos que perpetuam assimetrias socioculturais. Nesse contexto, é imperativo inserir no debate o impacto multifacetado da pandemia de COVID-19, cujos desdobramentos – desde a acentuação de desigualdades digitais até a reconfiguração de políticas públicas – repercutiram de forma crítica no ensino artístico, em especial no âmbito do teatro. A análise dedicar-se-á, ainda, à trajetória do ensino especializado de teatro em Portugal: embora o curso de teatro tenha sido criado em 19715, sua inserção efetiva no regime articulado ocorreu apenas em 2022, mediante a Portaria n.º 65/20226, configurando-o como uma modalidade recente se comparado a áreas consolidadas, como o ensino de música. Essa historicidade limitada evidencia lacunas estruturais, como a precarização da profissão docente e a necessidade de atualização curricular frente a demandas emergentes. Destaca-se, nesse viés, a urgência de integrar temas transversais – como a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) -, exigindo a construção de forma crítica e interdisciplinar. Ao articular essas dimensões, o capítulo busca não apenas mapear desafios, mas também fomentar reflexões sobre a potencialidade do ensino artístico em teatro como espaço de resistência, capaz de questionar paradigmas hegemónicos e promover práticas educativas inclusivas e contextualizadas. Estrutura do Sistema Educativo Português: O sistema educativo português, estabelecido pela Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de outubro)7, estrutura-se em três níveis principais: educação básica (dividida em três ciclos), educação secundária e educação superior. Esta organização reflete um 5 Ver, https://dre.tretas.org/dre/11925/decreto-lei-310-83-de-1-de-julho 6 Ver, https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/portaria/65-2022-178478635 7 Ver, https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1744&tabela=leis 26.
Scene 28 (1h 3m 1s)
[Audio] compromisso histórico com a democratização do acesso à educação, alinhando aos princípios de universalidade e equidade8. A Lei n.º 46/86, ainda vigente com alterações posteriores, define a educação como um direito fundamental, como destacado: 4 – O sistema educativo responde às necessidades resultantes da realidade social, contribuindo para o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade dos indivíduos, incentivando a formação de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários e valorizando a dimensão humana do trabalho. 5- A educação promove o desenvolvimento do espírito democrático e pluralista, respeitador dos outros e das suas ideias, aberto ao diálogo e à livre troca de opiniões, formando cidadãos capazes de julgarem com espírito crítico e criativo o meio social em que se integram e de se empenharem na sua transformação progressiva (LEI N.º 46/86, art, 2.º). Os incisos 4 e 5 do art. 2.º da Lei n.º 46/86, que estabelece o quadro geral do sistema educativo português, refletem princípios pedagógicos e filosóficos alinhados com as teorias educacionais modernas, enfatizando a formação cidadã, o desenvolvimento crítico e as responsabilidades sociais. O inciso 4 postula que, o sistema educativo deve responder às necessidades sociais, promovendo o "desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade" e formando cidadãos "livres, responsáveis, autónomos e solidários". Essa perspetiva ecoa a visão de John Dewey (1916), para quem a educação é um processo social que visa preparar indivíduos para a participação ativa na democracia, não apenas como recetores de conhecimento, mas como agentes críticos. Dewey argumenta que, "a educação não é preparação para a vida; a educação é a própria vida" (p.239), reforçando a ideia de que a escola deve integrar experiências que desenvolvam autonomia e responsabilidade. Além disso, a ênfase na "dimensão humana do trabalho" remete à crítica de Karl Marx (18181883) à alienação laboral, ao propor que o trabalho dever ser uma expressão da criatividade humana, não apenas uma mercadoria. Contemporaneamente, Martha Nussbaum (2010) amplia essa discussão ao defender que a educação deve cultivar capacidades humanas essenciais, como o pensamento crítico e a empatia, fundamentais para a solidariedade (p.82). Assim, o inciso 4 alinha-se a uma pedagogia humanista que valoriza a integralidade do indivíduo em sua relação com a sociedade. O inciso 5 do art. 2 destaca o papel da educação no desenvolvimento de um "espírito democrático e pluralista", baseado no diálogo, no respeito às diferenças e na transformação 8 República portuguesa, 1986. 27.
Scene 29 (1h 6m 34s)
[Audio] social. Esse princípio dialoga diretamente com a teoria da educação democrática de Amy Gutmann (1987), que defende uma escola como espaço de "consciência social reproduzida", onde os estudantes aprendem a deliberar sobre valores conflitantes em uma sociedade plural (p.14). Gutmann enfatiza que, a educação deve equipar os cidadãos para "questionar e reimaginar" as estruturas sociais, algo explicitado no inciso ao mencionar o "espírito crítico e criativo" e o "empenho na transformação progressiva". A menção ao diálogo como ferramenta pedagógica também ressoa com Jürgen Habermas (1984), para quem a ação comunicativa é a base da esfera pública democrática. Habermas sustenta que, o consenso só emerge por meio de debates livres de coerção, princípio que a escola, segundo o inciso 5, deve institucionalizar. Ademais, Paulo Freire (1970) complementa essa visão ao defender que, a educação deve ser um ato político de "libertação", capacitando os oprimidos a criticarem e transformarem sua realidade (p.67). O artigo, portanto, incorpora elementos da pedagogia crítica, que rejeita a educação bancária (FREIRE, 1970, p. 58) em favor de uma prática emancipatória. Tais ideias, alinha com o documento Theatro Livre & Arte Social (1902), que apresenta uma crítica contundente ao modelo mercantilista do teatro de sua época, posicionando o Teatro Livre como uma entidade artística comprometida com valores educativos civilizatórios, em oposição à lógica industrial e exploradora. A análise aqui proposta, busca contextualizar, à luz de referenciais teóricos, as ideias centrais do documento, destacando sua relevância no cenário brasileiro do início do século XX e suas conexões com movimentos artísticos intelectuais contemporâneos. O documento inicia-se com uma oposição clara ao que denomina "teatro vulgar", associado à "estruturização mercantil" (p.6). Essa crítica reflete um posicionamento comum em movimentos de vanguarda do período, que rejeitavam a subordinação da arte aos interesses comerciais. Como observa Bourdieu (1996), a autonomia do campo artístico frequentemente desconstrói contra a lógica económica, buscando legitimar-se por valores intrínsecos à arte. O Teatro Livre, ao abandonar a "febre dos interesses" (p. 6), alinha-se a essa perspetiva, propondo uma arte desvinculada da "empresa industrial" (p. 6), termo que evidencia a rejeição à industrialização cultural, tema também abordado por Adorno e Horkheimer (1985) em sua critica à indústria cultural. A defesa do teatro como "veículo da civilização" (p. 6) e "escola" (p. 7) revela uma conceção pedagógica da arte, alinhada ao ideal positivista de progresso social, predominante no Brasil 28.
Scene 30 (1h 10m 4s)
[Audio] nas primeiras décadas da República. Segundo Magaldi (1984), o teatro brasileiro do início do século XX foi marcado por tentativas de reforma social, muitas vezes associadas a projetos educacionais. A frase "não se representa para ganhar, trabalha-se para educar" (p. 7) sintetiza essa missão, ecoando propostas intelectuais como Rui Barbosa, para quem a arte deveria servir à formação ética e cívica (BOSI, 1994). A ênfase no "sacrifício e culto às melhores ideias" (p. 6) reforça a noção de que o Teatro Livre operava em um regime de não lucratividade, distanciando-se de "intuitos meramente exploradores" (p. 6). Essa postura remete ao conceito de arte pela arte, discutido por Théophile Gautier no século XIX, mas também dialoga com o naturalismo de Zola, para quem o teatro deveria ser um "laboratório de ideias" (ZOLA, 2001, p. 34). No contexto brasileiro, tal idealismo contrastava com a realidade de um mercado teatral incipiente e dependente de patrocínios, conforme analisado por Décio de Almeida Prado (1988). Ao afirmar que o Teatro Livre se singulariza entre "organizações aparentemente similares" (p. 6), o texto busca legitimar seu projeto como único, não apenas na forma, mas no propósito. Essa retórica de distinção é típica de grupos que buscam afirmar-se em campos artísticos competitivos, como destaca Bourdieu (1996). A recusa em ser uma "bilheteira" (p.7) reforça sua identidade contra o mainstream, estratégia comum em movimentos como o Teatro Experimental do Negro, décadas depois (NASCIMENTO, 1961). O documento ao defender um teatro desvinculado de interesses mercantilistas e comprometido com a educação e a civilização, estabelece paralelos significativos com os princípios históricos e contemporâneos do ensino artístico especializado em Portugal. Essa relação pode ser exploradas em três eixos principais: (1) a conceção pedagógica de arte, (2) a tensão entre autonomia artística e demandas mercantis, e (3) o papel da arte na construção identitária e social. O documento afirma que o teatro, "transformado em escola" (p.7), assume uma função educativa, abandonando o mero entretenimento comercial. Essa perspetiva ecoa a tradição do ensino artístico em Portugal, que, desde o século XIX, institucionalizou-se como ferramenta de formação técnica e humanística. O Conservatório Real de Lisboa (fundado em 1835), por exemplo, já defendia que a arte deveria "cultivar o espírito e elevar o caráter" (RODRIGUES, 2010, p. 45), alinhando-se à ideia de que "trabalha-se para educar" (p.7). Contudo, enquanto o Teatro Livre enfatiza a arte como veículo de "civilização" (p. 6), o modelo português tradicionalmente integrou-se a projetos de afirmação nacional, como destacou Pereira (2018): 29.
Scene 31 (1h 13m 48s)
[Audio] "O ensino artístico em Portugal foi, desde o Estado Novo, um instrumento de preservação da identidade cultural, mesmo que sob uma ótica conservadora" (p. 112). A crítica do Teatro Livre ao teatro como já mencionado "bilheteira" (p.7), reflete uma tenção ainda presente no ensino artístico português, especialmente após a Reforma de Bolonha (2006), que intensificou a profissionalização dos cursos. Na realidade portuguesa, a formação de profissionais em teatro, tenciona o cultivo de excelência técnica pautada na adaptação a mercados voláteis em detrimento de formação pedagógica para a formação docente, o que faz com que estes futuros docentes entram para o mercado de trabalho com limitações em relação a práticas pedagógicas contemporâneas. O sistema educativo português organiza-se conforme esquematizado adiante, com enfoque analítico nos 2º e 3º ciclos do ensino básico, etapas centrais desta investigação. Ainda que o estudo priorize essa fase, contextualiza-se brevemente o 1º ciclo do ensino básico, assim como os níveis subsequentes – ensino secundário e superior -, reconhecendo a sua interdependência estrutural e influência sistémica. 1. Educação Básica: Ciclos e objetivos A educação básica, obrigatória e gratuita dos 6 aos 15 anos (Lei de Bases do Sistema Educativo, Lei n.º 46/86), estrutura-se em três ciclos pedagógicos: 1.1. 1º Ciclo (4 anos, 1º ao 4º ano) Direcionado à "alfabetização e socialização primária" (BARROSO,1995, p. 34), este ciclo combina o domínio de competências básicas em língua portuguesa e matemática com uma introdução às ciências sociais e naturais, visando a consolidação de habilidades cognitivas e socioafetivas essenciais. 1.2. 2º Ciclo (2 anos, 5º ao 6º ano) Assume um caráter transicional, marcado pela integração progressiva de disciplinas especializadas (ex: história e geografia) e métodos pedagógicos mais complexos, como a introdução à pesquisa orientada (COSTA et al., 2018). Este estágio prepara os alunos para a diversificação curricular subsequente. 1.3. 3º Ciclo (3 anos, 7º ao 9º ano) 30.
Scene 32 (1h 16m 39s)
[Audio] Focado na "diversificação curricular e orientação vocacional" (PINTO, 2009, p.112), consolida conhecimentos interdisciplinares e introduz opções formativas que antecedem o ensino secundário, como línguas estrangeiras e tecnologias aplicadas. Segundo Nóvoa (1998), essa estrutura tripartida busca equilibrar formação geral e desenvolvimento de competências sociais, alinhando-se a princípios de equidade educacional. No entanto, análises críticas destacam lacunas na flexibilidade pedagógica, especialmente em contextos de diversidade cultural e socioeconómica, onde modelos uniformizantes podem marginalizar necessidades específicas (DIAS, 2017)9. 2. Educação Secundária: Dualidade Acadêmica e Profissional O ensino secundário (3 anos, dos 15 aos 18 anos) bifurca-se em cursos científico-humanísticos (preparatórios para o ensino superior) e cursos profissionais (com foco na inserção laboral). Esta dualidade, conforme Costa et al. (2018), reflete a influência de modelos europeus, como o alemão, adaptados ao contexto português. A Lei de Bases enfatiza a necessidade de "articular a educação com as atividades produtivas" (República Portuguesa, 1986, art. 7.º), mas estudos recentes destacam desigualdades de prestígio entre as vias (Silva & Martins, 2020). 3. Educação Superior: Universidades e Politécnicos O ensino superior português divide-se entre universidades (foco na investigação) e institutos politécnicos (formação técnica). A reforma de Bolonha (2006) uniformizou os ciclos (licenciatura, mestrado, doutoramento), alinhando Portugal ao Espaço Europeu de Ensino Superior (TEIXEIRA & AMARAL, 2001). Contudo, persistem debates sobre a hierarquização entre subsistemas, com críticas à "sobrevalorização do modelo universitário" (MAGALHÃES & AMARAL, 2007, p. 45). A Lei n.º 46/86 estabelece princípios como a "igualdade de oportunidades" (art. 3.º), mas sua implementação enfrenta desafios. Relatórios da OCDE (2020) destacam que Portugal mantém taxas elevadas de abandono escolar precoce (8,9% em 2020), especialmente em regiões periféricas. Além disso, o Decreto-Lei n.º 55/2018, que reformou o currículo do básico e 9 O esquema ilustra a arquitetura hierárquica do sistema, destacando a relação entre ciclos e seus objetivos. A escolha pelos 2.º e 3.º ciclos justifica-se por sua relevância na transição entre infância e adolescência, fase crítica para a definição de trajetórias educacionais e pelo fato de que o ensino artístico especializado em teatro ser voltado para estes dois ciclos. 31.
Scene 33 (1h 20m 11s)
[Audio] secundário, foi criticado por sua ênfase em "competências transversais" em detrimento de conteúdos disciplinares (PERALTA, 2020). A estrutura do sistema educativo português, reflete tensões entre tradição e modernização. Enquanto a Lei de Bases assegura direitos universais, sua efetivação depende de políticas contínuas para reduzir disparidades socioeconômicas. Como afirma Stoer (2001), "a educação em Portugal é um espelho das contradições de uma sociedade em transição" (p. 89). Desempenho e Desafios do Sistema Educativo Português O sistema educativo português tem registado avanços significativos nas últimas décadas, conforme evidenciado pelos resultados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) 2022, que posicionam Portugal acima da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em literacia científica (505 pontos) e leitura (492 pontos) (OCDE, 2022). Este progresso é atribuído a reformas estruturais, como a expansão da educação pré-escolar e a estabilização de políticas curriculares pós-2000 (FERNANDES, 2019). No entanto, persistem desigualdades socioeconômicas profundas: "Alunos de contextos desfavorecidos têm, em média, resultados inferiores em 78 pontos aos de contextos privilegiados" (OCDE, 2022, p. 15), uma disparidade equivalente a quase três anos de escolaridade, conforme metodologia do PISA. A trajetória ascendente de Portugal no PISA desde 2000 reflete uma "convergência educativa com a Europa Ocidental" (CARNEIRO et al., 2020, p. 34). Entre 2006 e 2022, o país subiu 35 pontos em ciências, superando países como Espanha e Itália. Esse avanço é associado à "profissionalização docente e à focalização em avaliações diagnósticas" (VIEIRA, 2018, p. 112), além da redução do número de alunos por turma em regiões prioritárias (DECRETO-LEI n.º 54/2018). A taxa de abandono escolar precoce, que era de 28,8% em 2010, caiu para 5,9% em 2022 (PORDATA, 2023), aproximando-se da meta europeia de 5% até 2030. Apesar dos progressos observados, persistem no sistema educacional "assimetrias geográficas e socioeconômicas intrínsecas" (ROCHA, 2021, p. 78), que comprometem a equidade. Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) de 2022 evidenciam que 34% da variação no desempenho em matemática entre alunos está correlacionada ao nível socioeconômico das famílias, percentual significativamente superior à média de 29% registada nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Essas disparidades, conforme análises recentes, são intensificadas por fatores estruturais. Entre eles, destaca-se a segregação escolar: estudos demonstram que instituições localizadas em territórios 32.
Scene 34 (1h 24m 8s)
[Audio] vulneráveis concentram até 60% de alunos em situação de carência, reduzindo a diversidade social e perpetuando ciclos de exclusão (NUNES et al., 2022). Além disso, o acesso desigual a recursos digitais aprofunda as desigualdades: durante a pandemia de COVID-19, 12% dos estudantes socioeconomicamente desfavorecidos não dispunham de computadores para acompanhar aulas remotas, conforme registado pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC, 2021). Tais desafios, reforçam a necessidade de políticas públicas direcionadas à desconstrução de barreiras históricas e à garantia de oportunidades equitativas, sobretudo em contextos de vulnerabilidade. Como ressalva Rodrigues (2020), "a escola portuguesa reproduz, em microescala, as fraturas macro da sociedade" (p. 45), evidenciando a necessidade de políticas intersectoriais. A redução do abandono escolar está vinculada a iniciativas como o Programa TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária), implementado desde 1996 e reformulado em 2021. O TEIP atua em 137 agrupamentos escolares de alta vulnerabilidade, combinando "apoio psicossocial, tutorias e incentivos à retenção de talentos docentes" (Direção-Geral da Educação, 2021, p. 7). Estudos mostram que escolas TEIP reduziram o insucesso escolar em 40% entre 2015 e 2022 (SANTOS, 2023). Contudo, críticos apontam que o programa "prioriza metas quantitativas em detrimento da qualidade pedagógica" (COSTA, 2023, p. 19), além de depender excessivamente de financiamento europeu temporário. Para consolidar os avanços educacionais, especialistas recomendam estratégias multifacetadas. Em primeiro lugar, é prioritária a expansão da ação social escolar, uma vez que, dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC, 2022) revelam que apenas 18% dos alunos em situação de carência socioeconómica recebem apoio integral, evidenciando lacunas na cobertura de políticas assistenciais. Paralelamente, destaca-se a formação docente especializada em contextos multiculturais, já que 27% dos professores, conforme estudo de Martins (2021), relatam desafios pedagógicos e de gestão em turmas com alta diversidade étnica, o que demanda capacitação contínua em práticas inclusivas. Por fim, a integração de competências socioemocionais nos currículos surge como um eixo complementar: a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE, 2022) ressalta que o desenvolvimento de habilidades com resiliência e colaboração não só fortalece o desempenho académico, como também, atua como mecanismo de mitigação de desigualdades estruturais. Essas medidas, articuladas, visam assegurar equidade e qualidade educacional em cenários complexos. 33.
Scene 35 (1h 27m 52s)
[Audio] Os dados do PISA 2022 confirmam que Portugal superou o "atraso histórico em educação" (STOER, 2020, p. 102), mas a equidade permanece um desafio estrutural. Como afirma Nóvoa (2023), "não basta incluir; é preciso incluir com qualidade" (p. 15). A sustentabilidade do progresso dependerá de políticas públicas que articulem investimento, formação docente e inclusão digital. Impacto da Pandemia de COVID-19 no Sistema Educativo Português: Desafios Estruturais e Respostas Políticas A pandemia de COVID-19, declarada em março de 2020, expôs e amplificou desafios estruturais preexistentes no sistema educativo português, particularmente no que diz respeito à desigualdade digital e à capacidade de adaptação a crises. Como destacam Pereira e Batista (2022), "a educação portuguesa enfrentou um teste de stress sem precedentes, revelando fragilidades sistemáticas mascaradas por avanços recentes" (p.45). Um estudo pioneiro da Universidade do Porto evidenciou que "46% dos estudantes em Portugal tiveram dificuldades no acesso a equipamentos digitais durante o confinamento" (COSTA et al., 2021, p.34), percentagem que atingiu 68% em regiões rurais do interior (DGEEC, 2020). Esses dados ilustram uma clivagem socioeconómica e geográfica que transcendeu a emergência sanitária, reforçando a urgência de políticas públicas orientadas para a equidade tecnológica. A transição abrupta para o ensino remoto em março de 2020 revelou uma "exclusão digital estratificada" (OCDE, 2021, p.22), na qual estudantes de famílias com rendimentos abaixo do limiar da pobreza enfrentam barreiras triplas: falta de dispositivos, conectividade precária e competências digitais insuficientes. Segundo a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC,2020), 23% das escolas portuguesas não possuíam infraestrutura de banda larga adequada ao ensino síncrono, situação crítica em municípios como Bragança e Beja. Além disso, 34% dos professores reportaram "dificuldades em adaptar conteúdos pedagógicos ao formato digital" (AZEVEDO, 2021, p.78), agravando a perda de aprendizagem entre alunos vulneráveis. O impacto foi particularmente severo no 1º ciclo, onde a interação presencial é crucial para a alfabetização. Um estudo longitudinal do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa estimou que "alunos de contextos desfavorecidos regrediram, em média, 14 semanas de progresso em matemática" durante o primeiro confinamento (CARDOSO et al., 2022, p.112). Reconhecendo a dimensão da crise, o governo português integrou a educação digital como eixo central do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR, 2021), alocando 500 milhões de euros 34.
Scene 36 (1h 31m 35s)
[Audio] para a "modernização tecnológica das escolas, formação docente e aquisição de equipamentos" (PRR, 2021, Medida EDUdig). Entre 2021 e 2023, o programa Escola Digital distribuiu 260 mil computadores e 100 mil kits de conectividade, priorizando alunos carenciados (DGEEC, 2023). Contudo, especialistas alertam que "a distribuição de hardware é necessária, mas insuficiente sem investimento paralelo em literacia digital" (DIAS, 2022, p.34). Paralelamente, o Ministério da Educação implementou o regime excecional de apoio tutorial específico (Despacho n.º 1689-A/2021), visando mitigar perdas de aprendizagem através de aulas de reforço em pequenos grupos. Embora bem-intencionada, a medida foi criticada por sua "aplicação desigual, com adesão abaixo de 40% nas regiões mais afetadas" (SILVA, 2022, p.67). A pandemia acelerou a transição para modelos híbridos de ensino, mas também evidenciou a necessidade de repensar a resiliência do sistema educativo. Dados do PISA 2022 revelam que, Portugal registou uma "queda de 12 pontos em matemática" entre 2018 e 2022, retrocesso parcialmente atribuído à crise sanitária (OCDE, 2023, p.89). Além das perdas académicas, estudos destacam impactos psicossociais: 32% dos alunos reportaram "ansiedade elevada ou síndrome de burnout" pós-confinamento (CARVALHO et al., 2021, p.56). Segundo Rodrigues e Lopes (2023), a pandemia de COVID-19 atuou como um "revelador político", expondo fragilidades estruturais e demandando ações urgentes em três eixos centrais: a universalização do acesso a plataformas pedagógicas interoperáveis, evitando a fragmentação de ferramentas digitais que ampliam disparidades tecnológicas, a integração de competências socioemocionais nos currículos, alinhada às diretrizes da UNESCO (2021) para uma educação holística, e o fortalecimento da autonomia escolar, essencial para respostas ágeis e contextualizadas a crises futuras. Se, por um lado, a crise sanitária exacerbou desigualdades preexistentes – como o acesso desigual a recursos digitais e a precarização de grupos vulneráveis -, por outro, catalisou transformações no sistema educativo português, sobretudo na aceleração de políticas de digitalização e na reavaliação de prioridades pedagógicas. Nesse contexto, o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) surge como uma janela de oportunidades para "transformar a adversidade em inovação" (NÓVOA,2021, p.18), desde que os investimentos em infraestrutura tecnológica e formação docente sejam acompanhados de mecanismos rigorosos de avaliação e participação comunitária, garantindo que as perspetivas ao alentar que "a digitalização da educação não é um fim em si mesma, mas um meio para promover equidade e qualidade" (p. 14), destacando a necessidade de equilibrar avanços 35.
Scene 37 (1h 35m 12s)
[Audio] técnicos com políticas inclusivas. Assim, o desafio pós-pandémico reside não apenas em corrigir deficiências expostas pela crise, mas em reimaginar a educação como um projeto coletivo, capaz de integrar inovação, equidade e sustentabilidade em suas bases estruturais. Inclusão no Ensino Artístico Especializado em Teatro: Articulação com o DL 54/2018 e Desafios Específicos A aplicação do Decreto-Lei n.º 54/2018 ao ensino artístico especializado em teatro revela tantas potencialidades quanto desafios únicos, dada a natureza prática e colaborativa desta modalidade educativa. Enquanto o diploma legal preconiza uma escola "mais flexível e adaptada à diversidade" (Ministério da Educação, 2018, p.3), as instituições que oferecem o ensino de teatro enfrentam obstáculos específicos para garantir a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais (NEE), desde a acessibilidade física até a adaptação pedagógica de técnicas performativas. O ensino artístico especializado em Teatro, regulado pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, deve alinhar-se aos princípios do DL 54/2018, provendo "currículos flexíveis que contemple múltiplas formas de expressão" (Direção-Geral das Artes, 2020, p.12). Isso implica adaptar metodologias de ensino, como improvisação e interpretação, para alunos com NEE. Por exemplo, escolas como o Conservatório Nacional têm experimentado o uso de "tecnologias assistidas, como tradução em língua gestual portuguesa (LGP) para exercícios de dicção" (CARVALHO, 2022, p. 56). Contudo, a falta de diretrizes específicas para o ensino artístico limita a padronização dessas práticas (OCDE, 2022). Espaços cénicos tradicionais, como palcos e salas de ensaio, frequentemente não cumprem normas de acessibilidade universal. Um estudo da Universidade de Lisboa identificou que "apenas 22% das escolas de Teatro em Portugal possuem rampas móveis ou elevadores adaptados" (FERNANDES et al., 2021, p.34), excluindo alunos com mobilidade reduzida de atividades práticas. A formação de professores de teatro raramente inclui módulos sobre educação inclusiva. Conforme Rodrigues et al., (2021), "78% dos docentes em artes performativas nunca receberam treino em Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA)" (p.117), resultando em dificuldades para adaptar exercícios de expressão corporal a alunos com autismo ou défice cognitivo. A carência de técnicos especializados, como intérpretes de LGP com experiência em teatro, é crítica. Enquanto o DL 54/2018 exige "apoio especializado contínuo" (art. 15.º), a maioria das 36.
Scene 38 (1h 38m 56s)
[Audio] escolas de teatro depende de profissionais externos, cuja disponibilidade é esporádica (SILVA, 2023). Algumas instituições destacam-se pela inovação inclusiva: A Escola Superior de Tetro e Cinema (ESTC) implementou um "programa de mentoria entre pares", onde alunos neurotípicos cocriam espetáculos com colegas com NEE, reduzindo estigmas (MARTINS, 2022); o projeto Teatro Acessível, financiado pelo PRR, desenvolveu uma plataforma digital com recursos adaptados (ex: vídeos com audiodescrição), usada por 30 escolas artísticas (PRR, 2023). Para superar os desafios, espera-se que haja uma integração do DUA nos currículos de formação de professores de teatro, em parceria com instituições como o Instituto do Teatro e Cinema (UNESCO, 2021). Do mesmo modo que se pode alocar verbas do PRR para modernizar infraestruturas físicas e digitais, priorizando acessibilidade em palcos e salas de aulas (Plano Nacional das Artes, 2022). Além disso, criar redes colaborativas entre escolas de teatro e associações de pessoas com deficiência, seguindo o modelo bem-sucedido do projeto IncluArte (AZEVEDO E LOPES, 2023). A inclusão no ensino artístico de teatro exige uma releitura das diretrizes do DL 54/2018, considerando as especificidades das artes performativas. Como afirma Nóvoa (2023), "a inclusão só se realiza plenamente quando a diversidade se torna matéria-prima da criação artística" (p.22). Para tal, é urgente combinar investimento em recursos, formação docente e cooperação intersetorial, assegurando que o teatro seja um espaço de expressão para todos. O sistema educativo português evoluiu positivamente em indicadores como abandono escolar e equidade, mas enfrenta desafios persistentes, como a digitalização e a inclusão efetiva, além das questões já abordadas do curso de teatro. Como ressalva o relatório da OCDE (2021): "Portugal precisa de priorizar a formação docente e a redução de assimetrias regionais para consolidar os progressos alcançados" (p. 27). A Importância do Teatro e da Comunidade no Ensino Artístico Especializado em Teatro em Portugal O ensino artístico especializado em teatro em Portugal, enquanto dispositivo cívico e pedagógico, constitui-se como um eixo estruturante na formação de indivíduos dotados de pensamento crítico e capacidade criativa, aptos a intervir na tessitura social de modo transformador. Neste contexto, a simbiose entre teatro e comunidade erige-se como pilar fundamental não apenas a práxis pedagógica, mas também para a construção dialética de identidades coletivas. Nesta parte do texto, procura-se analisar como a integração da dimensão 37.
Scene 39 (1h 42m 24s)
[Audio] comunitária no ensino teatral português reforça valores de coesão social, fomenta processos inclusivos e consolida a relevância cultural da arte dramática enquanto ferramenta de emancipação. Para tal, quatro conceitos operativos serão articulados – educação através da arte, teatro aplicado, criação colaborativa e comunidade educativa –, cruzando-os com as contribuições teóricas de Augusto Boal, Cecily O'Neill, Patrice Baldwin e Paulo Freire, e contextualizando-os no panorama sociocultural português. A institucionalização do ensino teatral em Portugal remonta ao século XIX, com a fundação do Conservatório de Lisboa (1833), estrutura precursora da contemporânea Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC). Como assinalam Corradin e Silva (2020), o Romantismo e a Revolução Liberal de 1836 catalisaram reformas culturais que reconfiguraram o campo teatral luso. Almeida Garrett, enquanto Inspetor-Geral dos Teatros, materializou este impulso através da criação do Repertório da Cena Nacional e do Conservatório da Arte Dramática, bem como da idealização do Teatro Nacional D. Maria II (1846). Contudo, a produção da época, marcada por melodramas burgueses e peças históricas de escasso rigor estética, refletia o gosto de um público pouco exigente, paradoxo que Garrett buscou superar ao defender que a literatura dramática era "a mais ciosa de independência nacional" (GARRETT, 1850, p. 1), vinculandoa ao projeto liberal de construção identitária. No contexto do regime salazarista, ao longo do século XX, o teatro português assumiu um papel preponderante enquanto instrumento de resistência política e cultural. Obras como Comunicação – Auto da Feiticeira Cotovia (Natália Correia, 1959), Felizmente Há Luar! (Sttau Monteiro, 1961), O Homúnculo (Natália Correia, 1965), e O Judeu (Bernardo Santareno, 1966), assim como produções com textos destes e de outros autores como Luzia Maria Martins (também encenadora), Alves Redol, José Cardoso Pires ou Jaime Gralheiro, ainda no período da ditadura, empreenderam uma reinterpretação crítica da história nacional, articulando o passado com uma projeção simbólica de um futuro emancipado. Através de alegorias e metáforas, estes dramaturgos confrontaram o autoritarismo vigente, utilizando o palco como espaço de questionamento ideológico e reivindicação de liberdade. No âmbito da historiografia teatral, revisitaram-se contributos fundamentais, como a obra História do Teatro Português (STEGAGNO PICCHIO, 1969), que estabelece uma sistematização pioneira da evolução dramática nacional. Complementarmente, os estudos de Luiz Francisco Rebelo (1972) e José Oliveira Barata (1991) oferecem uma análise abrangente, percorrendo desde as origens medievais do teatro até as suas manifestações contemporâneas. 38.
Scene 40 (1h 46m 10s)
[Audio] Destaca-se, ainda, a obra O Espetáculo Desvirtuado (GRAÇA DOS SANTOS, 2004), que examina comparativamente o teatro português durante o Estado Novo, estabelecendo paralelos com movimentos cénicos internacionais e sublinhando o seu carácter subversivo perante a censura. Esta interligação histórica entre a prática teatral e o contexto sociopolítico sustenta a premissa fundamental de que o ensino do teatro não pode dissociar-se do seu enquadramento comunitário. O palco, enquanto microcosmo de tensões e aspirações coletivas, reflete e reconstrói a memória social, reforçando a importância pedagógica de integrar a arte dramática numa perspetiva crítica e contextualizada. A pedagogia teatral, influenciada por teóricos como Augusto Boal e Paulo Freire, enfatiza a "práxis" como um diálogo entre teoria e ação social. Freire (1987), em sua abordagem sobre educação crítica, defende que "a aprendizagem deve ser um ato de libertação, não de domesticação" (p.67). No contexto português, isso se traduz em metodologias que incentivam os estudantes a engajarem-se com questões locais, utilizando o teatro como ferramenta de intervenção. A educação através da arte, fundamenta-se na premissa de que o processo artístico é um ato político e emancipatório. Princípio que ressoa no ensino teatral português. Para Freire – a dialética entre reflexão e ação – é essencial para desconstruir hierarquias de poder. No contexto do teatro, isso implica transformar o espaço cénico num laboratório de experimentação social, onde os estudantes não apenas aprendem técnicas dramáticas, mas questionem realidades opressivas. Isto posto, podemos chegar na visão freiriana de que "o diálogo é o encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo" (FREIRE, 1987, p. 88), ou seja, o teatro torna-se um meio para "pronunciar" criticamente a realidade. Já a comunidade não é apenas um público passivo, mas um agente ativo na construção do processo artístico. Schechner (2002) argumenta que "o teatro é, por natureza, um espaço de encontro, onde as fronteiras entre artista e espetador se dissolvem" (p.25). Em Portugal, projetos como o Teatro do Oprimido, adaptado por grupos locais, ilustram essa simbiose. Segundo o relatório da Escola Superior de Teatro e Cinema (2020), 60% dos projetos finais de alunos entre 2015 e 2020 envolveram colaborações com comunidades periféricas, abordando temas como migração e desigualdade social. 39.
Scene 41 (1h 49m 19s)
[Audio] O teatro aplicado, distinto do teatro tradicional, é definido por sua função social e pedagógica. Augusto Boal (1979), criador do Teatro do Oprimido, propôs que o teatro fosse "uma arma de construção massiva" (p. 134), instrumento para desnaturalizar opressões e ensaiar revoluções. Eugénia Vasques (2021), no capítulo Caminhos no Teatro Adaptado às Comunidades, ressalta que o teatro aplicado às comunidades (TC) não se confunde com o teatro amador, pois é "dirigido por artistas profissionais" e adaptado às "circunstâncias e necessidades" locais (p.84). Essa abordagem, influenciada por Augusto Boal e seu Teatro do Oprimido, visa transformar realidades sociais por meio de processos colaborativos. Vasques enfatiza que o TC opera numa "ecologia de práticas" (STENGERS, 2005, citada por VASQUES, 2021, p.84), adaptando-se a contextos diversos e promovendo diálogos críticos. Projetos como Teatro de Identidades, desenvolvido por Rita Wengorovius (2021), ilustram essa sinergia. A autora relata práticas teatrais comunitárias com idosos, evidenciando os "benefícios da prática teatral no processo de envelhecimento criativo e de cidadania" (p.171). Tais iniciativas reforçam a ideia de que o teatro, além de ferramenta expressiva, é um meio de empoderamento social, conforme defendido por Paulo Freire (1975), para quem a educação deve ser um ato libertador e dialógico. Indo além, o projeto Teatro de Identidades ecoa Boal ao utilizar o teatro como "rehearsal for reality" (ensaio para a realidade), onde os participantes experimentam soluções para problemas concretos. A criação colaborativa presente nestes projetos pressupõe a coautoria entre artistas e participantes, valorizando diversidade de vozes. Patrice Baldwin (2008) define-a como "um processo que valoriza a contribuição coletiva acima da visão individual" (p. 23), enfatizando que o teatro escolar deve ser "um espaço de experimentação democrática" (BALDWIN, 2012, p. 56). Cecily O'Neill (1995), por sua vez, destaca o processo dramático como ferramenta pedagógica. Para a autora, "o drama é uma forma de conhecer o mundo, não apenas representálo" (p. 12), ideia que se materializa em práticas como a reinterpretação de obras históricas portuguesas. Por exemplo, a peça Felizmente há Luar!, de Sttau Monteiro, escrita sob o salazarismo, é frequentemente revisitada em aulas para discutir opressão e resistência, articulando passado e presente através do diálogo crítico. Enquanto o conceito de comunidade educativa transcende a sala de aula, envolvendo atores sociais diversos na construção do conhecimento. Essa visão alinha-se com Jaques Rancière (2010), para quem o "espectador emancipado" não é passivo, mas coautor do sentido artístico, desafiando a divisão tradicional entre palco e plateia. Um caso emblemático é o projeto Entre 40.
Scene 42 (1h 52m 58s)
[Audio] Margens, desenvolvido em bairros sociais de Lisboa, onde jovens e idosos co-criaram peças sobre memória coletiva e identidade cultural. Segundo Falcão, Leite e Pereira (2021), o ensino de teatro especializado deve "mudar as pessoas, e as pessoas transformam o mundo" (p. 80), reforçando o papel da arte como catalisadora de mudança social. Impõe-se, desde logo, destacar a relevância conceptual do termo espectador emancipado. A noção de "espectador emancipado", formulada pelo filósofo Francês Jacques Rancière, subverte as dicotomias tradicionais entre atividade e passividade nos domínios da arte, da educação e da política. Desenvolvida na obra O Espectador Emancipado (2008), esta conceptualização problematiza a perspetiva hierárquica que reduz o espectador à condição de mero recetor passivo de mensagens, propondo, em contrapartida, uma reconfiguração radical da dinâmica entre observador e objeto artístico. Segundo Rancière, tal abordagem desmonta a falsa oposição entre contemplação e ação, reivindicando para o espectador um papel ativo na construção de sentidos, o que implica, ipso facto, uma reavaliação crítica dos pressupostos que fundamentam as práticas pedagógicas, estéticas e políticas. Com efeito, Rancière repudia a premissa de que o ato de observação se constitua como uma prática intrinsecamente passiva. Segundo o filósofo, a tradição crítica – profundamente marcada por pensadores como Brecht e Adorno – consolidou um denominado "mito da passividade", ao vincular a figura do espectador a uma suposta alienação, que exigiria, por conseguinte, um "despertar" mediado por uma consciência exterior (RANCIÈRE, 2008, p. 15). Não obstante, Rancière sustenta que tal abordagem reitera uma estrutura de dominação intelectual, ao pressupor uma assimetria cognitiva entre emissor e recetor. Nas suas palavras "Pressupor que o espectador não pensa é confundir a distância crítica com a submissão" (p. 22). Neste contexto, a emancipação do espectador radica no reconhecimento inequívoco da capacidade hermenêutica, isto é, na aptidão para interpretar e resinificar o objeto contemplando de forma autónoma, desvinculando-se de tutelas epistemológicas externas. Nuclear ao pensamento rancieriano é o princípio da "igualdade das inteligências", conceito que remota à influência do pedagogo Joseph Jacotot. Rancière problematiza o modelo pedagógico tradicional, assinte numa assimetria cognitiva entre o "sábio" – detentor presumido do conhecimento – e o "ignorante" – relegado à condição de mero recetor. Denominada "ordem explicativa", essa estrutura, segundo o autor, perpetua uma negação da capacidade inerente de aprendizagem autónoma, cristalizando relações de dominação simbólica. Como afirma o autor: "A emancipação começa quando se desiste de opor olhar e ação, compreensão e transformação" 41.
Scene 43 (1h 56m 36s)
[Audio] (RANCIÈRE, 2008, p. 34). Neste quadro teórico, o espectador emancipado não se define pela assimilação passiva de instruções sobre "como ver", mas sim pelo reconhecimento da sua competência hermenêutica para decifrar e, consequentemente, intervir criticamente no tecido social. Trata-se, portanto, de uma rejeição radical da tutela intelectual e de uma reivindicação da agência transformadora inerente a todo sujeito. No âmbito da reflexão estética, Rancière localiza a emancipação no "regime estético" das artes, categoria que subverte a dicotomia tradicional entre forma e conteúdo. Ao contrário de uma arte instrumentalizada, que impõe significados unívocos, a arte emancipatória opera através de uma polissemia ontológica, gerando espaços de ambiguidade que exigem uma participação ativa por parte do observador. Como sublinha o autor: "A imagem artística não é um documento a ser decifrado, mas um campo de possibilidades as ser explorado" (RANCIÈRE, 2008, p. 72). Tal premissa dissolve a fronteira hierárquica entre criação e receção, instituindo um dispositivo dialético no qual o espectador assume o papel de interlocutor ativo, capaz de reinterpretar a obra de modo singular e, assim, contestar narrativas hegemónicas. Neste paradigma, a experiência estética transcende a mera contemplação, convertendo-se num ato político de reinvenção semiótica, que desafia estruturas de poder consolidadas. Constitui-se, portanto, como imperativo teórico reconhecer que a emancipação do espectador transcende o domínio estético, projetando-se de forma indelével na esfera política. Rancière articula este fenómeno com o seu conceito de "partilha do sensível" – isto é, a estruturação do espaço comum no que determina quais vozes são legitimadas no âmbito do discurso público e quais são relegadas ao silenciamento epistémico. O espectador emancipado, ao rejeitar os lugares sociais pré-constituídos, assume uma agência política que redefine as fronteiras do possível. Nas palavras do autor: "A política começa quando aqueles que não têm direito à palavra a tomam" (RANCIÈRE, 2008, p. 55). Neste sentido, a emancipação configura-se não como um estado teleológico, mas como uma práxis contínua de questionamento radical dos dispositivos de exclusão simbólica e material. Trata-se, em última instância, de um processo dialético que desestabiliza hierarquias instituídas, reivindicando a democracia do sensível como fundamento ético da vida coletiva. O conceito de espectador emancipado, tal como formulado por Jacques Rancière, configura-se como um enquadramento teórico robusto para a reavaliação crítica de práticas culturais, pedagógicas e políticas. Ao rejeitar as hierarquias intelectuais sedimentadas e afirmar a universalidade da competência hermenêutica, Rancière interpela-nos a reconhecer a dimensão 42.
Scene 44 (2h 0m 2s)
[Audio] política e intrínseca a todo ato de observação. Como salienta Davis (2013), trata-se de um processo de "democratização radical do olhar", que não apenas desestabiliza noções convencionais de autoridade, mas também desmonta a falsa oposição entre atividade criadora e passividade recetiva. Neste prisma, a emancipação não se circunscreve a um horizonte utópico, mas consubstancia-se numa práxis coletiva de questionamento permanente, na qual a liberdade crítica se exerce através da contínua reinterpretação de códigos simbólicos e estruturas de poder. Nas palavras do próprio filósofo, tal processo implica "substituir a lógica da instrução pela lógica da igualdade" (RANCIÈRE, 2009, p. 17), reconfigurando assim os paradigmas que governam a produção e a circulação de saberes. O ensino especializado em teatro em Portugal, enraizado em matrizes teóricas transnacionais e resinificado à luz de especificidades socioculturais locais, consolida-se enquanto espaço de práxis emancipatória. Se, por um lado, o arcabouço crítico de Paulo Freire e Augusto Boal fornece as bases epistemológicas para uma pedagogia libertadora, autores como Cacily O'Neill e James Baldwin ampliam a compreensão sobre dialética entre processos criativos e pedagógicos. Projetos emblemáticos, como o Teatro do Oprimido em Contexto Comunitário (TC) e o Teatro Identidades, ilustram de forma paradigmática como a prática teatral, através de uma relação simbiótica com a comunidade, opera simultaneamente como instrumento de desconstrução de hegemonias culturais – na aceção boaliana de "arma" transformadora (BOAL, 1979, p. 45) – e como espaço liminar de negociação identitária, nos termos propostos por Schechner (2002, p. 112). Neste prisma, o ensino teatral português reconfigura-se como um eixo estruturante não apenas da expressão estética, mas de uma pedagogia radicalmente engajada, capaz de articular, de forma indelével, os domínios da educação, da arte e da luta por equidade social. Como acentua Vasques (2021), "a arte não reflete a comunidade; ela constrói-a" (p. 92), axioma que redefine a comunidade educativa enquanto entidade orgânica em permanente devir, cuja dinâmica interna se alimenta da contínua reinvenção de imaginários coletivos. Tal processo, longe de se circunscrever a uma mera transmissão de técnicas dramáticas, consubstancia-se, num ato político de reivindicação de agência, no qual o palco se transforma em microcosmo de disputas e reconfigurações sociais. Os Desafios dos Professores no Ensino de Teatro no Ensino Artístico Especializado em Portugal O ensino de teatro no ensino artístico especializado em Portugal enfrenta desafios específicos, marcados por contextos históricos, políticos e sociais que influenciam diretamente a prática 43.
Scene 45 (2h 3m 35s)
[Audio] pedagógica. Enquanto o país possui uma tradição cultural rica em artes cénicas, as políticas educativas e as condições estruturais frequentemente limitam o potencial dessa formação. Este texto aprofunda tais obstáculos, analisando suas raízes e implicações no cenário luso. A herança do sistema educativo português, historicamente influenciado por uma visão utilitarista do conhecimento, marginaliza as artes em favor de disciplinas consideradas "essenciais" (PAIVA, 2018). O teatro, em particular, enfrenta dificuldades para consolidar-se como disciplina central no ensino artístico especializado, mesmo após a reforma do Sistema de Ensino Artístico Especializado (SEAE) em 2012. Como aponta Antunes (2020), "a carga horária reduzida e a falta de reconhecimento oficial do teatro como área autónoma perpetuam sua subalternidade" (p.34). Essa marginalização reflete-se na escassez de investimentos e na desvalorização simbólica da profissão docente na área. Embora Antunes tenha mostrado a realidade do ensino de teatro em 2020, essa realidade mantém-se em alguns aspetos na atualidade, como por exemplo a falta de recursos. Em Portugal, a falta de infraestrutura adequada é um desafio crítico. Segundo dados da Direção Geral de Educação (DGE, 2021), apenas 15% das escolas com cursos artísticos especializados possuem salas de teatro equipadas com iluminação, sonoplastia e espaços cénicos adequados. Muitos professores trabalham em salas de aula convencionais, adaptadas improvisadamente, o que limita a experimentação prática. Como observa Ribeiro (2019), "a precariedade dos recursos materiais inviabiliza a realização de projetos que exijam técnica apurada, como a cenografia ou a direção de atores" (p.78). Essa realidade é agravada em regiões do interior, onde o acesso a equipamentos culturais é ainda mais restrito (CARVALHO, 2022). O currículo do ensino artístico especializado em teatro em Portugal ainda reflete métodos tradicionais, com ênfase em cânones dramáticos europeus e técnicas clássicas. Contudo, como defende Costa (2019), "o teatro contemporâneo exige abordagens interdisciplinares, como o uso de tecnologias digitais e a integração de linguagens performativas não convencionais" (p.112). Essa dissonância gera conflitos entre a formação oferecida e as demandas do mercado artístico atual. Além disso, a resistência a metodologias participativas, como as propostas por Boal (1974), limita o potencial crítico e social do ensino de teatro. A avaliação no ensino de teatro em Portugal enfrenta críticas pela falta de critérios objetivos. Enquanto o Ministério da Educação exige relatórios quantificáveis, a natureza subjetiva da criação artística desafia modelos tradicionais. Grady (2000) já destacava que, "avaliar a expressividade cénica requer sensibilidade a dimensões intangíveis, como a originalidade de 44.
Scene 46 (2h 7m 15s)
[Audio] conexão emocional" (p.89). Em Portugal, essa tenção leva muitos professores a adotarem sistemas híbridos, combinando notas técnicas com autoavaliações, mas sem diretrizes nacionais unificadas (DGE,2021). A formação inicial de professores de teatro em Portugal frequentemente prioriza a formação artística em detrimento da preparação pedagógica. Como alerta a UNESCO (2006), "apenas 30% dos docentes de teatros em países ibéricos possuem formação específica em didática das artes" (p.45). Em Portugal, cursos de licenciatura em Teatro não incluem, com a frequência desejável, disciplinas sobre práticas educativas (licenciatura em Teatro e Educação existiu na ESTC e na Universidade de Évora, e existe na ESE de Coimbra), deixando os professores pouco preparados para lidar com questões como inclusão de alunos com necessidades especiais ou gestão de turmas heterogéneas (FERNANDES, 2021). Além disso, a falta de formação continuada aprofundada o isolamento profissional, especialmente em contextos rurais. Os cortes orçamentários recorrentes na área da cultura e da educação afetam diretamente o ensino artístico. Entre 2010 e 2020, o financiamento de cursos de teatro no SEAE diminuiu 22%, segundo o Ministério da Cultura (2020). Essa instabilidade desencoraja a adesão de jovens aos cursos e sobrecarrega os docentes, que muitas vezes precisam buscar parcerias com instituições privadas para viabilizar projetos. Como critica Pinto (2023), "a dependência de recursos externos fragiliza a autonomia pedagógica e submete o ensino a interesses comerciais" (p.67). Os desafios do ensino de teatro em Portugal exigem políticas públicas que reconheçam o papel transformador das artes cénicas na educação. É urgente revisitar o currículo do SEAE, integrando práticas e pedagogias contemporâneas, garantindo infraestrutura mínima para o trabalho pedagógico. Como propõe Costa (2029), "a criação de redes colaborativas entre escolas, teatros nacionais e comunidades locais, pode democratizar o acesso a recursos e fomentar inovação" (p.120). Além disso, a valorização da formação docente e o aumento do investimento público são passos indispensáveis para que o teatro deixe de ser um "parente pobre" do sistema educativo e se torne um eixo central na formação de sujeitos críticos, sociais e políticos. Educação para o desenvolvimento sustentável em Portugal A educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) em Portugal tem sido alicerçada em políticas públicas, práticas pedagógicas inovadoras e estudos empíricos que destacam a importância da integração de valores ambientais, sociais e económicos no sistema educativo. 45.
Scene 47 (2h 10m 37s)
[Audio] Este campo articula-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, especialmente o ODS 4.7, que visa garantir que todos os estudantes adquiram conhecimentos para promover a sustentabilidade (ODS, 2025): Até 2030 garantir que todos os alunos adquirem os conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive por meio da educação para o desenvolvimento de estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de género, promoção de uma cultura de paz, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável 4.a Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças sensíveis às deficiências e às questões de género, e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes para todos. 4.b Até 2020, ampliar substancialmente, a nível global, o número de bolsas de estudo – para os países em desenvolvimento e os países africanos – para o ensino superior, incluindo programas de formação profissional, de tecnologia da informação e da comunicação, programas técnicos, científicos e de engenharia, em países desenvolvidos e outros países em desenvolvimento. 4.c Até 2030, aumentar substancialmente o contingente de professores qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países menos desenvolvidos e pequenos estados insulares em desenvolvimento (ODS, 4.7, 2025). A agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, com ênfase no Objetivo 4 (ODS, 4, 2025) propõe transformações estruturais na educação. Contudo, sua implementação no ensino artístico especializado em teatro em Portugal apresenta desafios e contradições que merecem análise crítica. A meta 4.a prevê "instalações físicas […] sensíveis às deficiências e às questões de género". Embora essencial, a adaptação de espaços teatrais em Portugal pode priorizar acessibilidade física em detrimento de investimentos pedagógicos específicos. Como alerta Boal (2009), "o teatro é a arte de ver-se vendo" (p.47), exigindo ambientes que estimulem a experimentação criativa, não apenas a conformidade técnica. A construção de infraestruturas padronizadas, sem diálogo com as necessidades pedagógicas do teatro (improvisação, cenografia, interação corporal), pode resultar em espaços "seguros", porém pouco estimulantes artisticamente. Além disso, a meta não aborda a desigualdade regional: enquanto cidades como Lisboa e Porto concentram recursos, regiões como o interior enfrentam carências históricas (DGARTES, 2022). A centralização contradiz o discurso de "inclusão para todos". A ampliação de bolsas (meta 4.b) para países em desenvolvimento poderia fomentar intercâmbios culturais. No entanto, ao priorizar áreas como "tecnologia da informação" e "engenharias", o texto marginaliza as artes. Como nota UNESCO (2010), a redução da educação artística a "apêndices" dos currículos reforça hierarquias entre saberes "úteis" e 46.
Scene 48 (2h 14m 52s)
[Audio] "supérfluos" (p.21). Em Portugal, programas como Erasmus+ têm beneficiado mais cursos técnicos, enquanto o teatro recebe financiamento residual (INE, 2023). Há ainda o risco de reproduzir dinâmicas neocoloniais: ao atrair estudantes de países africanos lusófonos, Portugal pode impor uma visão eurocêntrica ao teatro, ignorando práticas locais. Como questiona Mbembe (2016), "a cooperação internacional muitas vezes apaga epistemologias do Sul" (p.34). A formação em teatro precisa de abordagens decoloniais, não apenas ampliar vagas. A meta 4.c propõe aumentar professores qualificados via "cooperação internacional". Porém, a formação docente em teatro em Portugal já sofre com a precarização. Segundo o Relatório da Federação de Artistas (2021), 68% dos docentes de teatro atuam com contratos temporários, dificultando a continuidade pedagógica. A cooperação internacional pode priorizar modelos de ensino alinhados a padrões globais (Ex: métodos anglófonos), desvalorizando tradições locais, como o teatro popular português ou a relação com a língua. Indo além, a ênfase em "habilidades para o desenvolvimento sustentável" pode instrumentalizar o teatro como ferramenta de propaganda política, em vez de espaço crítico. Para Freire (1996), "a educação verdadeira é prática da liberdade, não-adaptação a fins externos" (p.81). Reduzir o ensino teatral a um veículo para metas sócio económicas ameaça sua autonomia artística. As metas do ODS 4 trazem oportunidades para o ensino do teatro em Portugal, como a modernização de infraestruturas e intercâmbios. Contudo, sua implementação acrítica pode reforçar desigualdades regionais, marginalizar saberes artísticos e reproduzir hierarquias culturais. É urgente adaptar essas diretrizes às especificidades do teatro, garantindo que a "valorização da diversidade cultural" (ODS 4) não seja retórica, mas prática efetiva. Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA 2017) Adotada em 2017, a ENEA surge como um marco na promoção da literacia ambiental em Portugal, alinhando-se explicitamente com o Acordo de Paris e os (ODS) da agenda 2030. A estratégia estrutura-se em três eixos fundamentais: Educação Ambiental + Transversal: Integra a sustentabilidade em políticas setoriais como saúde, energia e turismo, visando uma abordagem holística. Educação Ambiental + Aberta: Promove a acessibilidade de recursos e a colaboração entre instituições públicas, privadas e sociedade civil. 47.
Scene 49 (2h 18m 8s)
[Audio] Educação Ambiental + Participada: Incentiva projetos comunitários e a corresponsabilização cidadã, como destacado no documento: "A EA deve ser um processo de aprendizagem ao longo da vida, de forma a promover uma cidadania informada e ativa, que garanta o envolvimento e o compromisso de cada um de nós no futuro sustentável" (ENEA, 2017). Segundo o Inquérito sobre a ENEA em 202010, As 16 medidas da ENEA incluem iniciativa como a formação de professores, a criação de redes de cooperação e o financiamento de projetos locais (Ex: 168 projetos cofinanciados, totalizando 6,4 milhões de euros até 2023). O BCSD Portugal, destacou a necessidade de renomear a estratégia para "Educação para o Desenvolvimento Sustentável", reforçando sua ligação com os ODS e a economia circular11. Dentro deste aspeto surge o Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade (2017). Desenvolvido pelo Ministério da Educação, este referencial orienta a integração da sustentabilidade nos currículos escolares, enfatizando a conexão entre ciência, tecnologia e cidadania ativa. O documento propõe metodologias que incentivam a participação estudantil em projetos práticos, como hortas pedagógicas e monitorização de ecossistemas, alinhado com o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental para a Sustentabilidade (GTEAS). Este grupo, criado em 2005, articula ações entre escolas, autarquias e ONGS, seguindo as diretrizes curriculares nacionais12. Um exemplo de aplicação é o Guia Eco-Escolas, que estimula a gestão sustentável de recursos nas instituições de ensino, promovendo "competências como resolução de problemas e reciclagem de materiais"13. A abordagem crítica é ressaltada por Loureiro (2024): Educação ambiental é uma perspetiva que se inscreve e se dinamiza na própria educação, formada nas relações estabelecidas entre as múltiplas tendências pedagógicas e do ambientalismo, que têm no "ambiente" e na "natureza" categorias centrais e identitárias. Neste posicionamento, a adjetivação "ambiental" se justifica tão somente à medida que serve para destacar dimensões "esquecidas" historicamente pelo fazer educativo, no que se refere ao entendimento da vida e da natureza, e para revelar ou denunciar as dicotomias da modernidade capitalista e do paradigma analítico-linear, 10 Ver https://dge.mec.pt/noticias/inquerito-sobre-enea-estrategia-nacional-de-educacao-ambiental 11 Ver https://bcsdportugal.org/enea/ 12 Ver https://cidadania.dge.mec.pt/educacao-ambiental/ambiente-e-cidadania/estrategias-programas-e-grupos-detrabalho 13 Ver https://cidadania.dge.mec.pt/educacao-ambiental/ambiente-e-cidadania/estrategias-programas-e-grupos-detrabalho 48.
Scene 50 (2h 21m 21s)
[Audio] não-dialético, que separa: atividade econômica, ou outra, da totalidade social; sociedade e natureza; mente e corpo; matéria e espírito, razão e emoção etc (LOUREIRO, 2024). O ensino artístico especializado em teatro em Portugal, reconhecido pela sua contribuição para a formação cultural e crítica, enfrenta desafios estruturais que ecoam as dicotomias criticadas por Loureiro e Layrargues (2013) no domínio da educação ambiental. Segundo os autores, a modernidade capitalista reforça paradigmas analítico-lineares que fragmentam a totalidade social, separando a "atividade económica da totalidade social", a "razão e emoção", entre outros dualismos (p.2). No contexto teatral, esta crítica aplica-se à forma como o ensino especializado tende a priorizar a técnica em detrimento de uma integração holística com questões socioambientais e com a experiência humana integral. Em Portugal, o modelo de ensino teatral frequentemente reproduz uma estrutura hierárquica e disciplinar, centrada na excelência técnica – seja na interpretação, encenação ou dramaturgia – sem problematizar suficientemente as relações entre arte, sociedade e natureza. Como refere Paiva (2018), "o currículo das escolas de teatro ainda está ancorado nas divisões clássicas, como teoria versus prática ou corpo versus intelecto" (p.45), reflexo da mesma lógica não dialética denunciada por Loureiro e Layrargues (2013). Esta fragmentação limita a capacidade do teatro de se assumir como ferramenta crítica perante as crises socioambientais, uma vez que a educação ambiental exige, precisamente, "revelar ou denunciar as dicotomias da modernidade" (Loureiro & Layrargues, 2013, p. 2). A própria designação de "especializado" pode acentuar um distanciamento entre a prática artística e a vida quotidiana, reforçando a cisão entre "atividade artística" e "totalidade social". Para Boal (2009), o teatro é um "ensaio para a revolução", integrando reflexão crítica e ação coletiva. Contudo, em muitas instituições portuguesas, a ênfase na especialização técnica tende a relegar para planos secundários a dimensão política e ecológica, reproduzindo o "paradigma analítico linear" que fragmenta os saberes (Loureiro & Layrargues, 2013, p. 2). Não obstante, identificam-se iniciativas emergentes que procuram superar tais limitações. Projetos que aplicam o Teatro do Oprimido em contextos educativos portugueses (Silva, 2020) demonstram como a prática teatral pode constituir um espaço de "educação integral", interligando emoção, razão e crítica socioambiental. Tais experiências alinham-se com a visão de que a educação, artística ou ambiental, deve "destacar dimensões esquecidas historicamente pelo fazer educativo" (Loureiro & Layrargues, 2013, p. 2), como a interdependência entre os seres humanos e a natureza. 49.